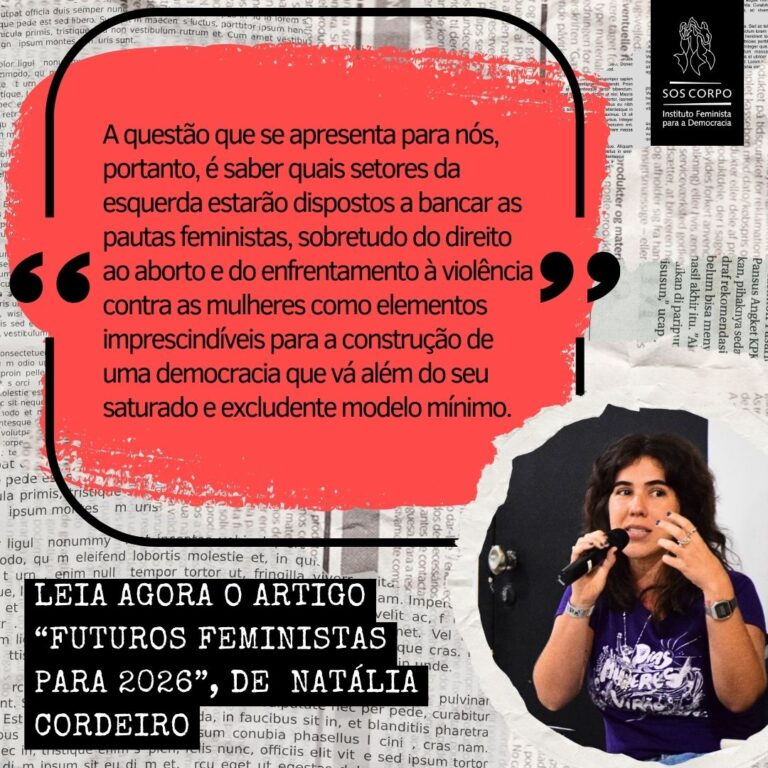ABORTO: reintegração na posse de nós mesmas
A legalização do aborto não é somente uma questão de decisão individual, mas, antes e, acima de tudo, de justiça social, onde, ao mudar o que parece ser um mero detalhe, transforma-se o que estrutura o todo da desigualdade.

Por Rivane Arantes*
Quando entra setembro e para a boa nova andar nos campos, nas águas e nas florestas, nós mulheres e meninas1 desse imenso e desigual Brasil, país inimigo das mulheres, não arredamos o pé dessa fronteira de guerra. Seguiremos em luta denunciando o controle patriarcal, racista, capitalista sobre nossa sexualidade e maternidade, condenando a criminalização de nossas resistências e exigindo a integral legalização do aborto.
Essas somos nós, as bruxas, curandeiras, rezadeiras, yalodês de ontem. As Jandiras, Elizângelas2, guerreiras-meninas de Alagoinhas3 e São Mateus4 de hoje, dia a dia, passo a passo, reintegrando-nos na posse de nossos próprios corpos e de nós mesmas.
Reafirmamos que a procriação, definitivamente, não determina a existência de nós mulheres nesta vida. A maternidade é uma das nossas infinitas possibilidades como seres humanas, mas nunca, a única, inclusive porque “podemos ser” mães (e há quem diga até “sermos pais”) sem nunca termos engravidado, assim como podemos não sê-lo. Maternidade não é destino mas, antes, uma função social, uma construção sócio-histórica, uma experiência de consentimento.

Entretanto, talvez o mais assustador às forças inimigas de nós mulheres é que, assim como maternidade, gravidez não é uma determinação biológica decorrente da natureza de um “ser mulher”. Antes, engravidar (e abortar) são fatos e realidades da vida reprodutiva dos corpos convencionalmente chamados de mulher. Mas gravidez também é direito, assim como maternidade, portanto, possibilidade de vir a ser. Nesse sentido, ela implica igualmente numa experiência de autodeterminação, ou seja, numa escolha, num consentimento, num desejo (e se tiver prazer, melhor ainda) e, na mesma medida, em condições materiais para se sustentar e para criar os filhos/as e vê-los crescer com projetos próprios.
É, assim, uma questão de justiça reprodutiva5 também, uma condição somente possível se ancorada num conjunto de direitos, isto porque os direitos reprodutivos não se referem à nós mulheres como meros indivíduos e à fecundidade como um processo isolado. O direito individual de decisão de uma mulher sobre sua vida reprodutiva, para ser uma relação de justiça reprodutiva, precisa estar muito ligado a condições materiais para sua realização no presente e no futuro, mas também, a condições sociais e simbólicas para o acolhimento daquela vida agora e no depois. Nenhuma mãe, especialmente as negras neste país racista, tem tranquilidade, segurança e desejo de dar à luz, em sã consciência, a um filho/a hoje, sabendo que este/a pode, logo mais, ser a próxima vítima do genocídio racista que ainda impera como política ostensiva no Brasil. Então, a justiça reprodutiva reclama o exercício de outros direitos humanos econômicos, sociais e culturais, assim como a construção de outra consciência social e outra ambiência territorial.
Essa articulação é fundamental para nós mulheres porque traz para o corpo e para o “estar no mundo” a história da construção da liberdade e da solidariedade que se sustentam na justiça social6. E liberdade individual é indissociável de direitos coletivos, de modo que a transformação cultural e de valores sociais é, nesse sentido, um processo incontornável para vivência desses direitos7.
Acreditar que uma gravidez pode implicar em maternidade, pensá-la como um dado e não um fato, uma obrigação e não uma escolha, é o mesmo que crer na distorção de que mulheres já nascem sabendo cuidar, vítimas de violência doméstica e sexista gostam de ser agredidas e abusadas e, toda mulher negra é lasciva, fonte de saciedade ilimitada e aguenta dor. Ou seja, é mais um ardil argumento para controlar nossos corpos e colonizar nossas existências.
Só que não! Nosso corpo é nossa morada, é nosso território primeiro de existência, ninguém mexe, ninguém invade, ninguém viola. Nem a família, nem as igrejas, nem as empresas capitalistas, nem o Estado. Não mais! Ignorar nossos alertas quanto a isso implica em enfrentar nossa resistência.
Lembramos que foi o feminismo, como movimento de luta de uma pluralidade de mulheres ao longo da história da humanidade, quem “causou”, ao desnaturalizar tantas vezes e, de diferentes formas, as várias situações de opressão e exploração contra nós mulheres. Ao denunciar que a insígnia direitos humanos não cumpria suas promessas, assim como a democracia, se mostrando ambas, abstrações eurocentradas. Ademais, para nós, sexualidade e reprodução, a despeito de outros tantos direitos humanos das mulheres, não estavam ali inscritos e nem os constituía, e nós mulheres, pelo menos metade da humanidade, muito controlada historicamente por essas duas dimensões existenciais, não éramos parte daqueles projetos.
Os direitos de nós mulheres somente se tornaram “parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais” em 1993, quando da Convenção da ONU em Viena. Foi nessa ocasião também, que os países assinalaram (enfim) que o poder de escolher, o exercício das liberdades, deve ser diretamente proporcional às condições materiais de existência, uma relação indivisível entre liberdade e igualdade. Mas, por terem sido inscritos apenas nos discursos formais e não nas vidas vividas8 das mulheres reais, os direitos humanos de nós mulheres, em especial, sexualidade e reprodução, também não foram reconhecidos como elementos imprescindíveis ao paradigma da democracia até o presente.
Assim, até hoje e em todas as partes do mundo, nós mulheres não conseguimos viver nossa sexualidade de forma livre, sofremos inúmeras interdições para exercer a maternidade quando a desejamos e, nos é imposto todo tipo de impedimento ao direito de abortar (do linchamento moral, criminalização penal e encarceramento à mutilação e morte) quando não consentimos e/ou não planejamos a gravidez. Além disso, engravidar e abortar têm sido experiências manipuláveis pelas forças que dominam as ciências, as igrejas, os meios de comunicação, as empresas capitalistas, o Estado enfim, no atendimento aos interesses do capital racista patriarcal.
O mais inacreditável é que sexualidade e reprodução são processos que ocorrem no interior de nossos próprios corpos, mas as interdições e os diferentes mecanismos de controle que se materializam em formas ainda mais perversas de sofrimento e violência sobre eles, sobre nós, são processos definidos por sujeitos outros que não nós mesmas, em nome de Deus, da democracia e até da natureza, e a pretexto de tudo em quanto, menos dos nossos interesses, necessidades, desejos e direitos.
Mas, por que é importante discutirmos os processos que se dão nos corpos de nós mulheres no campo dos direitos? Porque o direito, que é patriarcal, racista e capitalista, um conjunto de leis, procedimentos, práticas e relações, se sustentou e se constituiu historicamente num dever ser de subjugação dessa parte da humanidade, numa estratégia da guerra sistêmica contra esse “inimigo” comum. Todavia, como um dever ser, como processos e resultados provisórios das lutas que os seres humanos põem em marcha para ter acesso aos bens necessários à vida9, ou ainda, como vontades criadas por homens (e mulheres também) cujo escopo de ruptura com as injustiças se dirige a emancipação10, direitos, mais especialmente, direitos humanos, podem também se qualificar como instrumentos potenciais de transformação das estruturas sociais. É nisso que acreditamos e colocamos parte de nossa capacidade de luta.
E nós mulheres, que somos da classe que vive do nosso trabalho, que moramos nas periferias desassistidas, que temos a pele negra, que nos insurgimos contra a heteronormatividade, que nos rebelamos de diferentes formas contra a lei e a ordem quando essas são nitidamente injustas, temos revelado de que nossos corpos são territórios de disputas sócio-política-econômica-cultural que se fazem também no campo dos direitos. Nossos corpos são igualmente delineados pelos sistemas racista, patriarcal, capitalista que conformam as relações e as estruturas sociais, e o direito patriarcal racista capitalista é parte dessa engrenagem.
A história da humanidade demonstra bem que é, também, sobre os corpos femininos, que se estabelecem e legitimam a geopolítica dos dominantes/vencedores nas disputas entre os países e, na relação Estado/sociedade – nosso corpo é uma das principais fronteiras dos Estados-nações e umas das armas na guerra pelo poder instituído. Vejamos as inúmeras situações em que nossos direitos foram moedas de troca nas batalhas políticas no executivo e legislativo… E é por isso que um dos pontos centrais do direito patriarcal é o poder de legislar sobre nossos corpos11 e de controlar os processos que somente neles podem se concretizar, como uma gravidez, um aborto e até a amamentação (lembremos dos casos de repressão à amamentação em espaço público12).
Esse jogo do poder não é diferente, estamos vendo, do que se dá hoje também fora dos espaços estatais, nos territórios ocupados pelo tráfico e milícias nas periferias marginalizadas deste país. As histórias das jovens e adolescentes principalmente, as chamadas “novinhas”, geralmente empobrecidas e negras, obrigadas a “servir” aos chefes dessas organizações nas comunidades, é a expressão de que a dominação dos corpos e da sexualidade das mulheres continua sendo um dos principais mecanismos de dominação patriarcal sobre os territórios.
Muitos estudiosos/as do poder e biopoder, com destaque para Michel Foucault, já chamaram a atenção de que o corpo e a sexualidade sempre foram territórios de repressão, controle e domesticação da população, em especial na contemporaneidade e daquelas tidas como as “classes perigosas”, ou seja, a população feminina, empobrecida e negra. No caso de nós mulheres, esse controle social se deu e se dá justamente através do controle de nossos corpos, sexualidade e reprodução, e a sua sustentação se faz histórica e recorrentemente pelas ações, hora da Igreja, hora do Estado, hora da Medicina e do Direito. Todos, entretanto, utilizados com o fim de justificar a dominação masculina sobre a sociedade e seus processos, a partir da ideia de inferioridade feminina13.
Então, do ponto de vista do nosso feminismo anticapitalista, antirracista e antipatriarcal, relacionar os direitos das mulheres, em particular, os sexuais e reprodutivos, como direitos humanos é interpelar e desafiar a capacidade real desses direitos, e das lutas em torno deles, de mudar as relações e as estruturas que sustentam nossa sociedade. É, em última instância, experimentar uma radicalidade democrática que seja capaz de democratizar não somente o sistema político institucional, mas a própria democracia, no sentido das capacidades dos jeitos da sociedade se auto-organizar. É insistir, muito sinteticamente, que a vivência da autodeterminação sexual e reprodutiva por nós mulheres, em particular, às sujeitas aos efeitos negativos do racismo e do capitalismo, é uma métrica irrefutável da qualidade de qualquer democracia e da possibilidade de mudança do mundo não somente para nós mulheres, mas para todas as pessoas que nele habitam, independentemente da localização nas relações sociais de sexo/gênero, raça e classe social. Algo como a bela inspiração de Ângela Davis quando afirma que quando o mundo mudar para as mulheres negras, ele mudará para todas as pessoas14.
Controlar nossos corpos sempre foi meio de colonizar a sociedade toda
O primeiro apontamento a se fazer é que no Brasil a maioria dos dados sobre nós mulheres ainda não são suficientes para desenhar um mapa aproximado de nossas vidas concretas. Seja por problemas como subnotificação, falta de padronização na coleta, insuficiência ou desconsideração do recorte étnico-racial e de classe, seja pela invisibilização de nossas formas de vida, desimportância das dimensões de nosso cotidiano e desprezo dos impactos das políticas sobre nós, os órgãos responsáveis pela garantia de nossos direitos não conhecem (e parece cada vez menos querer saber) nossas reais condições de existência. E não (re) conhecer é uma forma de silenciar e consentir com a colonização de nossos corpos. É um jeito de nos dominar.
Uma segunda observação é a de que gravidez, maternidade e abortamento são contingências da vida reprodutiva de nós mulheres, no sentido de construções sociais, políticas e econômicas da vida concreta das mulheres reais, e não, estados de uma natureza abstrata, como insistem as doutrinas religiosas fundamentalistas fortemente atuantes sobre as decisões do Estado brasileiro, mesmo este sendo formalmente laico.
Nesse sentido, a história não nos permite enganar. O aborto já constava nas primeiras cartas jesuíticas15 como uma prática da vida cotidiana entre as indígenas e, entre as mulheres negras escravizadas, abortar era, na maioria das vezes, resultado das violências sofridas ao longo da vida nesse regime e das iníquas condições existenciais na colônia. Era, também, um ato de profunda resistência e rebeldia, uma escolha para evitar trazer ao mundo crianças que seriam escravizadas e filhos/as decorrentes de relações sexuais abusivas e violentas. O chamado estupro colonial cometido pelos patriarcas brancos, proprietários, donos das terras, governos, poderes constituídos e corpos objetificados das mulheres. Aliás, dada essa condição, podemos arriscar dizer que este foi um dos atos mais radicais das mulheres se instituindo como pessoa e sujeitos de suas próprias vidas no contexto colonial no Brasil.

O que nos leva à terceira observação. Foi e é por isso que ao longo da história deste país, nossos corpos de mulheres foram instituídos como objetos dos diferentes tipos de políticas de controle conforme o “animus” dos sistemas capitalista racista patriarcal. Quando foi necessário ao capital colonial, a reprodução de seres humanos para reposição da força de trabalho, quer seja durante a escravização ou após ela, ou para o povoamento de áreas inabitadas, o corpo de nós mulheres, negras e brancas, foi revalorizado como esse repositório. Aliás, a obrigatoriedade da gestação também foi uma imposição às mulheres da “casa grande”, quer dizer, às mulheres brancas esposas dos patriarcas. Michael Foucault16 destaca que essas mulheres valiam na proporção de sua fecundidade, já que era a procriação que preservava no tempo e no território, o poder da família patriarcal, ou seja, o nome da família, a transmissão dos bens e o próprio desenvolvimento das cidades, já que, pela perspectiva liberal, os homens brancos e proprietários é que acessavam a esfera pública e nela interviam.
Quando, entretanto, as taxas de natalidade aumentaram entre a população empobrecida e negra, o Estado brasileiro submeteu as mulheres desses grupos a políticas de controle de natalidade, inclusive, a esterilização forçada. Quando em todos os momentos da história esteve em questão o aumento da população negra que não interessava ao capital, as chamadas “classes perigosas” e mais recentemente, os “corpos supérfluos”, as políticas higienistas de embranquecimento materializadas na suspeição/repressão, esterilização e interrupção do nascimento de seres humanos considerados potenciais marginais, foram acionadas, inclusive, como uma espécie de “linha auxiliar” de combate à violência17.
Hoje, mais que nunca, os números de mortes de mulheres, em especial de negras, decorrentes de problemas evitáveis durante a gravidez e puerpério, especialmente as complicações decorrentes da clandestinidade das situações de abortamento, apontam que a necropolítica, definidora não só de quem deve viver, mas de quais vidas já não mais importam, segue em plena operação, e é o racismo patriarcal capitalista quem a determina.
Por isso, precisamos ficar atentas. Apesar dos argumentos essencialistas/divinos dos discursos institucionais do Estado, das igrejas cristãs e até dos meios de comunicação que condenam o aborto, a história é testemunha – gestação e sua interrupção nunca foram tratadas, também por estes que detinham e continuam detendo o poder de instituir normas e comportamentos, e, pela própria sociedade brasileira, como um fato da natureza e/ou um destino das mulheres. Engravidar e interromper a gravidez, mesmo sendo processos com consequências singulares às mulheres, foram e continuam sendo, a despeito do que quer que nós mulheres façamos, mecanismos de controle usados em diferentes momentos históricos, para atender aos interesses do sistema econômico e político, e não, aos nossos. Hora como obrigatoriedade, hora como interdição, mas sempre como controle e disciplinamento de nós mulheres, através de nossos corpos. Uma estratégia poderosa para manter o controle não apenas sobre nós, mas, sobre toda a coletividade, assim como o poder sobre o modelo de sociedade patriarcal, racista e capitalista.
A misoginia racista e capitalista em números
Há anos o feminismo vem revelando que são múltiplas as situações pelas quais as mulheres abortam:
(…) por serem muito jovens ou muito velhas (questão de saúde e momento do seu próprio ciclo de vida), por estarem desempregadas ou em novo trabalho (problema do mercado de trabalho), por serem muito pobres (questão da concentração ou desigualdade de renda), por trabalharem demais e não sobrar tempo para conviver com os filhos/as que já têm (questão da sobrecarga, dupla jornada e superexploração), por não terem com quem deixá-los/as (pela falta de creches e outras políticas, pela não partilha dos cuidados pelos companheiros e familiares próximos), por razões morais (culpa, para proteger relação fora do casamento ou com homem casado, ou proteger uma autoridade masculina – da comunidade, da religião, da política, com a qual se envolveu e da qual engravidou), por vergonha de ir à escola grávida e, não menos importante, por não ter acesso e conhecimento às formas de contracepção ou, porque, simplesmente, o método de contracepção falhou (todos eles falham, com diferentes taxas indicadas nas bulas, mas, essa circunstância nunca é lembrada pelos/as profissionais nos serviços de planejamento reprodutivo.)18.
Além dessas motivações, nós mulheres também abortamos porque não temos nenhuma segurança se poderemos criar nossos filhos/as no futuro, se eles/as terão a chance de construir e viver seus próprios projetos de vida ou, se serão pegos na primeira esquina com uma bala certeira das polícias ou uma “bala perdida” das milícias, como é o drama de muitas mulheres negras, periféricas, submetidas às indeterminações do empobrecimento e à violência nos territórios. Abortamos ainda, enfim, porque somos as maiores vítimas da violência do estupro, nas situações em que nossas vidas estão em risco de morte e quando apresentamos uma gravidez com anencefalia do feto (má formação do cérebro que, no geral, inviabiliza a vida), que são as três únicas exceções previstas na nossa legislação proibitiva do aborto.
Mas o que causa muita indignação é o fato de que nenhuma das motivações de nós mulheres, mesmo as permitidas por lei, nos livram de sofrer linchamento moral por parte do conjunto da sociedade e pior, de sofrer impedimentos no acesso ao direito de fazê-lo, mesmo nas situações em que o aborto está amparado por lei, tamanha o controle sobre nossas vidas, tamanho a misoginia. Não fosse isso, meninas como a criança negra de 10 anos de idade do Espírito Santo, estuprada por incesto de familiar há anos e, engravidada durante o isolamento social da pandemia do covid-19, negritemos isso, não seriam expostas a mais sofrimento e dor por profissionais de saúde e religiosos fundamentalistas e, não seriam impedidas pelo próprio Estado que deveria protege-la, de acessar seu direito-legal, assim como os serviços de aborto legal não estariam precarizados e agora, no contexto do governo que autodenomina “terrivelmente cristão”, em acelerado processo de desmonte.
Os números de abortos realizados no Brasil (inclusive o dado de subnotificação), as mortes de mulheres decorrentes da precariedade de sua prática, a racialização e o empobrecimento que marcam a clandestinidade dessa experiência e as vidas perdidas, além das tentativas de ampliar ainda mais sua criminalização, revelam a gravidade das condições de vida e de morte a que nós mulheres estamos submetidas neste país.
Pesquisa Nacional de Aborto 2016 (PNA/2016)19 da Universidade de Brasília e Anis Instituto de Bioética concluiu que em 2016 aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres já realizou aborto no Brasil, algo em torno de 3,9 milhões de mulheres e, pelo menos 4,7 milhões já fizeram ao menos 1 interrupção da gestação até aquele ano. A taxa de mulheres brancas que abortaram foi de 9%, a de negras foi de 29%, três vezes maior. A mesma disparidade se observa nas condições sociais, as mulheres que tinham renda familiar acima de 5 salários-mínimos tiveram taxa de aborto de 8%, as de renda entre 1 salário-mínimo e 1 a 2 salários, tinham taxa de 16% e 13% respectivamente. E a mais importante das conclusões da pesquisa – o aborto era realizado durante décadas por mulheres de todas as idades, classes sociais, grupos raciais, religiões (inclusive mulheres cristãs e sem religião), níveis educacionais, regiões do país, em todos os tipos e tamanhos de município, casadas ou não, que são mães hoje e trabalhadoras ou não, desvelando a hipocrisia de nossa sociedade diante da evidência de que tal experiência é sim, uma realidade muito presente na vida da pluralidade de nós mulheres.
Mas, a despeito de tudo isso, o aborto ainda é fortemente criminalizado no Brasil e punível com pena de prisão. Mesmo estando em flagrante desacordo com a melhor interpretação da Constituição Federal, dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos assinados pelo Brasil, das várias recomendações de revisão legislativa dos mecanismos de controle convencional da ONU e OEA e, das pesquisas já atestarem que nem sua criminalização impede as mulheres de realizarem-no, nem sua legalidade o transforma num método contraceptivo ou fator de incentivo e aumento de sua prática. O aborto, como uma manifestação de autonomia das mulheres, segue interditado à nós pelo direito patriarcal racista capitalista, tal o poder das forças históricas que não suportam assistir a metade da humanidade falando em seu próprio nome, acessando direitos, decidindo sobre o que se passa no seu corpo e quebrando as correntes que a subordinam à outra metade20.
Bem, mas aqui não só o aborto é crime. O estupro, a muito custo, também o é, e só recentemente previsto como crime contra a liberdade sexual (antes era crime contra os costumes). Todavia, o grau de criminalidade da violação do corpo das mulheres num estupro, uma prática majoritariamente masculina de dominação dos sujeitos e, de nós mulheres – importante afirmar – ainda é mensurado pelo “tamanho da roupa que ela estava usando”, “hora em que ela transitava na rua”, seu estado de embriaguez e/ou consciência, forma dela viver sua sexualidade e até, as obrigações decorrentes do contrato matrimonial lido muito ainda, como expressão de leis divinas. Ou seja, por circunstâncias que dizem respeito a experiência de liberdade das mulheres-vítimas sobre seus corpos, quando, na verdade, essa criminalidade deveria ser aferida pela violência da coação e apossamento do corpo do outro, no caso aqui da outra, por parte do estuprador. Tais circunstâncias fazem com que, ainda hoje, este crime seja “escusável” e a mulher-vítima, culpabilizada e muitas vezes abandonada à própria sorte.
Já o aborto, como uma ação de autodeterminação reprodutiva das mulheres, é criminalizado pelo direito, condenado moralmente pelas igrejas e, somente permitido em situações de estupro, risco de morte à gestante e anencefalia do feto. Mas é bom lembrar, para o nosso Estado patriarcal racista capitalista há estupros e estupros, abortos e abortos. Há aqui uma nítida diferenciação no julgamento do grau de criminalidade de cada ato e, na penalização dos sujeitos que os cometem, igualmente, como no caso do estupro, atravessado por visões de raça, classe e gênero. Ou seja, alguns são mais humanos que outros/as até na reprovação social e punição estatal de suas condutas.
Não nos deixa mentir os abortos cometidos em clínicas bem estruturadas para as mulheres que podem pagar, geralmente cercadas de mais segurança, e as clínicas clandestinas, precárias e ainda mais inseguras, para as negras e periféricas. O mesmo podemos dizer dos casos das meninas de Alagoinha/PE ontem e, de São Mateus/ES hoje, onde muita pressão institucional, inclusive religiosa, foi utilizada para obrigarem-nas a sustentar uma gravidez não consentida e cheia de risco, aliás, uma gravidez marcada por duas circunstâncias amparadas pelo direito ao aborto – o de ser fruto de vários estupros e o de causar risco de morte à gestante… há estupros e estupros, abortos e abortos, humanos e humanos…
A olhar por essas lentes, o Brasil é mesmo inimigo de nós mulheres. A misoginia racista capitalista é, cada vez mais, um traço de sua sociabilidade e práxis institucional, se expressando também em números. Hoje ele é um dos países com mais casos de estupros do planeta, mesmo com a grande subnotificação. A maioria de suas vítimas somos nós mulheres (81,8%) e negras (as pessoas negras correspondem a 50,9% das vítimas), mais da metade com até 13 anos de idade. Esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 201921 reforçam ainda mais a gravidade da situação, pois a cada 100 vítimas de estupro, 63,8% são crianças e adolescentes de até 14 anos de idade e, quase todos os estupradores (96,3%) são homens e conhecidos das vítimas (3 de cada 4 estupradores são parentes, vizinhos, amigos que têm contato prévio com as vítimas).
Há que se considerar ainda, o risco adicional mas, silencioso, que correm as mulheres em isolamento social por conta da pandemia do covid-19. Apesar de levantamentos como a Nota técnica “Violência doméstica durante a pandemia do covid-19”22 apontarem diminuição em 28,2% nos registros de ocorrência de estupro de mulheres neste período, várias estudiosas/os do assunto já desmistificaram tais resultados. Essa queda não necessariamente indica que houve menos violência ou estupros contra as mulheres nesse período, e apontam o aumento de feminicídio, “a ponta da violência”, como um termômetro disso, mas que a subnotificação dos casos pode estar na base dessa explicação23.
Isso porque o registro de crimes não letais depende da iniciativa das vítimas, e essas estão submetidas à presença dos estupradores em suas próprias casas em regime de confinamento, as impedindo de conseguir ajuda. E têm a ver também com às dificuldades de mobilidade nos territórios, dado o aumento da precarização dos serviços de transporte público durante o isolamento social; as restrições dos serviços de proteção e de denúncia, cujo atendimento presencial diminuiu significativamente para dar lugar aos canais virtuais, quando a maioria das mulheres, onde se localizam as negras e periféricas, não têm acesso a internet e têm dificuldade de acessar as plataformas online; além da gravidade da falta de consciência do problema, o que pode ocorrer quando a vítima é uma criança24.
O que articula essas duas práticas aqui (estupro e aborto) não é exatamente o fato de ambas serem criminalizadas, mas o de uma e outra serem realizadas nos corpos de nós mulheres, só que uma para dominar por meio de sua realização e, outra, para dominar por meio de seu impedimento. Ambas punem a nós mulheres, mesmo quando somos vítimas e, principalmente, no caso do aborto, quando o fazemos no exercício de nossa liberdade; ambas, quer seja pelo resultado impunidade no caso do estupro, quer seja pela punição no caso de aborto, de ainda mais injustiça para nós mulheres.
Então é preciso negritar – estupro é problema, mas o aborto não!
O problema – e muito grave, são as vidas de mulheres perdidas nos procedimentos de abortamento inseguros e clandestinos, uma vez que sua prática é inscrita na sociedade e no direito patriarcal racista capitalista como uma conduta criminosa de quem o realiza e de “mulheres desnaturadas”. O que mata não é o aborto, mas a racialização e empobrecimento de seus contornos e, principalmente, resultados negativos. O que mata não é o aborto, mas a violência sexual e a insegurança quanto ao presente e ao futuro que o reclama. O que mata não é o aborto, mas a sua criminalização e encarceramento. O que mata não é o aborto, mas uma gravidez indesejada, obrigatória e de risco. O que mata não é o aborto, mas a subtração de nossa relação/vinculação com a natureza, ao sermos transformadas em só natureza biológia. O que mata não é o aborto, mas a condenação moral e o controle fundamentalista dos corpos de mulheres e meninas. O que mata não é o aborto, mas o Estado teocrático nas suas decisões e práticas, embora laico nos seus princípios constitucionais. Enfim, o que mata não é o aborto, mas as relações racistas patriarcais capitalistas que fundam esta sociedade e objetificam nossa humanidade, agregando ainda mais degraus de humanidades às nossas humanidades de mulheres.
É esse conjunto de engrenagens que torna o aborto realizado em condições indignas e perigosas, umas das principais causas de mortes maternas no Brasil25, particularmente entre as negras, jovens e empobrecidas, aliás, “umas das causas mais mal declaradas de mortalidade materna” conforme pesquisa “Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?”26, repercutindo tanto nas vidas vividas do conjunto das mulheres, quanto na geopolítica do Brasil, se considerarmos a vivência (ou não) de direitos e pelas mulheres, um importante marcador do grau de desenvolvimento de um país.
Nesse sentido, o alto índice das mortes de mulheres por aborto inscreveu o Brasil dentre os países que não conseguem cumprir os ODM (objetivos de desenvolvimento milênio, atualmente objetivos de desenvolvimento sustentáveis – ODS) pois, mesmo tendo diminuído para 58% entre 1990 e 2015 segundo o Ministério da Saúde, passando de 143 para 60 os óbitos de mulheres por 100 mil nascidos vivos, o patamar elevado das mortes de mulheres por abortos clandestinos continuaram, revelando a iniquidade e injustiça das condições de vida e de morte dessa parcela da população e, tornando a convocação da ONU para a eliminação da mortalidade materna evitável até 2030, num contexto de profundo retrocesso dos direitos das mulheres como este, um enorme desafio institucional para o Estado brasileiro hoje.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)27 já estimou que em torno de 830 mulheres morrem diariamente por mortes evitáveis devido a causas relacionadas a gravidez, e que 99% desses óbitos ocorreram em países em desenvolvimento como o Brasil. Destacou ainda que a América Latina e Caribe é uma das regiões do planeta com uma das maiores taxas de mortalidade das mulheres por aborto inseguro (30 para cada 100 mil habitantes) e que no Brasil, a cada 2 dias, 1 mulher morre por complicações em abortos clandestinos a cada ano. Além disso, tendo sido considerada pela ONU a região do mundo com maior percentual de gestações não planejadas (56%), onde a maioria dos países têm legislações severamente restritivas28, milhares de mulheres recorrem ao abortamento clandestino e estes se constituem numa das principais causas de morbimortalidade materna29.
Essas mortes e a possibilidade de aumento do encarceramento da população feminina, ante a guerra conservadora acirrada neste momento no país contra nós mulheres, população negra e a classe que vive do trabalho, não podem ser naturalizadas e observadas apenas como números. Há aqui um importante impacto social a ser reconhecido. Tais situações também comprometeriam o futuro de um enorme percentual de famílias empobrecida e negras, haja vista o aumento gradativo do número de mulheres desse contingente que, a cada ano, se tornam responsáveis sozinhas pelo sustento de suas famílias. Segundo o IPEA, o número de domicílios chefiados por mulheres subiu de 25% em 2015 para 45% em 2018. Só entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de gestora da casa, enquanto 2,8 milhões de homens perderam essa posição no mesmo período, e o maior percentual desses números estão entra as famílias negras.
Já os dados do Serviço de Aborto Legal no Brasil, que só trata das situações em que o aborto é permitido, informam que entre 2013 e 2015, 90% dos abortos legais no país ocorreram em casos de gravidez por estupro, 5% em razão de anencefalia do feto e 1% de risco de morte. Por outro lado, também se observou uma precarização nesses serviços. Apesar dos números alarmantes de estupro, dos 176 hospitais mapeados no primeiro levantamento do Mata Aborto Legal elaborado pelo Artigo 1930, hoje apenas 42 hospitais no país confirmaram que realizam o serviço de aborto legal.
Além disso, no contexto da pandemia do covid-19, a medida de isolamento social aplicada numa sociedade violenta e patriarcal como a nossa, certamente expôs mais mulheres a mais situações de violência, como o estupro, ainda que os dados oficiais, por conta da subnotificação, não revelem isso diretamente. E justo nesse momento, os serviços de aborto legal no país diminuíram consideravelmente (apenas 42 hospitais mantiveram os serviços31) e o Ministério da Saúde emitiu a Portaria 2.282/2032, que interditou ainda mais o acesso das mulheres a esse direito através do SUS, confirmando que ser mulher neste lugar do planeta é um forte indicador de risco e é viver sob suspeição e com medo.
Por isso, há que se considerar, para melhor entender o caráter misógino do Brasil, além das inúmeras e complexas situações que nos levam a recorrer ao aborto, dos vários impedimentos a seu acesso seguro, das graves repercussões dele em nossas vidas e nas vidas dos nossos/as, os impactos do aborto inseguro sobre o SUS (Sistema Único de Saúde) e, da criminalização de nós mulheres, no sistema de justiça e segurança do Estado. Não nos enganemos – a criminalização do aborto não é boa nem para as mulheres, nem para as famílias e muito menos para o Estado.
Nesse sentido, levantamento com base no DataSUS33 aponta que só no primeiro semestre de 2020 o número de atendimentos de mulheres pelo SUS no Brasil, para realização de procedimentos decorrentes de abortos malsucedidos, tanto provocados como espontâneos – embora aqueles sejam mais necessários quando a interrupção é provocada (80.948 curetagens e aspirações) foi 79 vezes maior que o número de abortos legais (1.024). Em termos econômicos significa que só este ano o SUS já gastou 30 vezes mais com procedimentos pós-abortos inseguros (R$ 14,29 milhões) que com abortos legais (R$ 454 mil)34, algo que seria muito melhor equacionado caso o aborto fosse legalizado e as políticas de atenção à saúde das mulheres (PNAISM), as políticas de planejamento familiar e próprio SUS fossem fortalecidos.

A olhar pela magnitude do problema da clandestinidade do aborto e a persistência deste nas vidas de nós mulheres, prática que não é freada pela possibilidade de criminalização, pode ser profundo também, o seu impacto no aparelho de justiça e segurança, em especial, no complexo prisional brasileiro, caso o sistema de justiça criminal consiga captar e processar todas essas situações e mulheres. Se já é fato que o encarceramento feminino nos últimos anos vem quadruplicando, em termos proporcionais em relação aos homens, ele certamente irá entrar em colapso diante dessa enorme demanda. Além disso, certamente funcionará como mais um mecanismo de controle e higienização da população feminina, negra e empobrecida, as mais vulneráveis à lei penal e ao encarceramento e, as com menos acesso às condições adequadas de saúde e aborto seguro.
Então, a pergunta que não nos cala é – de onde emana o poder do Estado Brasileiro de coagir e punir uma mulher a se auto-inflingir uma ação que se realiza em seu próprio corpo e que, de modo livre, absolutamente, não deseja suportar, senão do poder emanado pelo patriarcado racista capitalista para dominar a nós mulheres? Se a PNA 2016 aponta que em 2015 a cada 1 minuto uma mulher realizou aborto no Brasil, que lógica transforma esse fato da vida reprodutiva de mais da metade da humanidade em crime e não em direito, senão o patriarcado racista capitalista?35
Do golpe institucional à pandemia, a misoginia só muda o sotaque
Sabemos que nunca foi fácil para nós mulheres conquistarmos sequer, pequenos avanços nos nossos direitos em países de tradição tão discriminadora e autoritária como o Brasil. Mas, várias iniciativas de monitoramento dos direitos das mulheres apontam que essa situação se aprofundou muito na última década, organizando o próprio golpe institucional que destituiu a primeira mulher eleita democraticamente presidenta deste país (Dilma Rousseff) e se agudizando com a pandemia do covid-19.
Não podemos nos esquecer de que com o golpe institucional, todo um caldo de cultura além de medidas e políticas estatais de viés ultraliberal, antidireitos, anticiência e até protofacista, ancoradas numa visão fundamentalista cristã, nitidamente misógina, racista e capitalista, se apoderou de nossa sociabilidade e de nossas instituições, desconstituindo o pouco de democracia que ainda existia como marco de nossa república e como modo de organização social.
Dados levantados pelo Elas no Congresso, plataforma de monitoramento legislativo da Revista Azminas36, observaram que 80% dos 69 projetos de leis (PLs) sobre o aborto apresentados no Congresso Nacional desde 2011, criminalizavam esta prática. As tentativas de ampliar as restrições ao aborto foram ainda maiores a partir de 2019, quando foram apresentados 18 PLs e, de janeiro a 25 junho de 2020 – 11 PLs, todos (a exceção de um único), com a intenção de agravar a punição a nós mulheres. Dos 69 PLs referidos, apenas um deles, o PL 882/2015 apresentado pelo então Dep. Jean Wyllys (PSOL/RJ), propunha a descriminalização do aborto.
Com a pandemia do covid-19 e a exposição pública da sanha misógina fundamentalista, que se prostrou de joelhos na porta de emergência da unidade hospitalar no Recife, que garantiu o direito ao aborto legal à garota negra de 10 anos do Espírito Santo, vítima de violência sexual por incesto de familiar durante o isolamento social da pandemia – é importante negritar esses dois fatos, se revelou até onde nossa sociedade está disposta a ir contra nós mulheres.
A hipocrisia social e dos/as pseudocristãos que protagonizaram aquela cena horrenda na frente do hospital (e também no seu interior), contra a menina/mulher indefesa, evidenciou quão misóginas podem ser suas teologias e práticas profissionais. Eles não conseguiram convencer, nem mesmo nas suas tortas visões sobre a vida, por que o suposto “assassinato de um bebê” (como o aborto legal provido àquela menina foi por eles qualificado) era abominável, mas as relações sexuais incestuosas cometidas sob coação, por um familiar adulto contra uma garota, dos seus 6 aos 10 anos de idade, não eram igualmente horrendas e motivo suficiente para defender aquela vida já gestada e vivida. O fato é que essa mesma sanha conservadora misógina fundamentalista acirrou os ânimos também no Congresso Nacional, a ponto de mais 24 projetos de lei terem sido apresentados somente após esse caso.
Segundo levantamento da Gênero e Número37, desses 24 PLs, pelo menos metade deles (12), propuseram elevar o tom punitivista do debate, se concentrando em medidas de endurecimento da punição do violador e, apesar da comoção social situar-se em torno do aborto, apenas 1 deles, o PL 4.297/2020 de iniciativa de Luíza Erundina (PSOL/SP) e outras deputadas, se preocupou com esta questão e os serviços de aborto legal.
O mais grave, contudo, foram e são as tentativas oportunista de parlamentares e gestores/as públicos, em momentos de tensão social e institucional como estes. São nessas ocasiões em que eles/as reavivam pautas contra os direitos das mulheres e o aborto principalmente, tudo na intenção de se manter em evidência nas mídias. Por trás dessa estratégia está o interesse de agregar mais valor a seu “capital político”, aproveitando o cerco fundamentalista na sociedade e, arrebanhar mais adeptos/as para seu “curral eleitoral”. Importante lembrar que estamos em pleno processo eleitoral municipal no Brasil. Um momento profundamente definidor para essas forças conservadoras, pois elas insistem em se apoderar do poder instituído, galgando as melhores condições na disputa política dos próximos dois anos, quando da eleição presidencial.
É isso o que vem ocorrendo no Congresso Nacional (e demais casas legislativas país afora), com as incansáveis e variadas orquestrações para mudança legislativa, principalmente a constitucional. Elas tentam impor a noção de vida desde a concepção do feto, como meio de inviabilizar toda forma de aborto, inclusive, o próprio aborto legal, direito conquistado desde a década de 40 do século passado. É também o que se dá no plano do executivo federal e demais unidades da federação, quando implantam medidas legais, procedimentos administrativos, programas e políticas que ampliam a burocracia, enaltecem apenas as famílias para colocar as mulheres como suas provedoras (familismo), obrigam os sujeitos envolvidos na sua provisão (os funcionários/as públicos) a práticas antiéticas, expõem as mulheres usuárias dos serviços a mais sofrimento e interdita ainda mais, o acesso dessas a direitos já conquistados, como o que ora ocorre com as vítimas de violência sexual após a emissão da Portaria 2.282/20 MS.
Conforme testemunhamos foi justo como o Estado brasileiro, via governo federal, respondeu ao episódio da menina do Espírito Santo vítima de estupro incestuoso que queria e tinha direito ao aborto legal. Apesar da comoção social, onde inúmeros sujeitos políticos comprometidos com os direitos humanos e das mulheres repudiaram a ação fundamentalista contra os/as trabalhadores/as da saúde e da justiça que atenderam ao direito daquela menina ao aborto legal, e contra a garota e sua avó38, o Estado brasileiro respondeu com ainda mais truculência, emitindo oportunisticamente a portaria 2.282/20, com o objetivo explícito de impedir o acesso do conjunto das brasileiras ao direito ao aborto legal.
É consenso entre nós mulheres que construímos o feminismo, mas também entre outros sujeitos políticos que têm consciência cidadã e engajamento na construção de um mundo com mais justiça social e reprodutiva, que essa portaria não foi somente uma resposta apressada deste governo misógino à recente demonstração de força das mulheres. Antes, ela é parte de uma estratégia muito mais ampla e antiga contra nós e contra a própria democracia neste país, das forças ultraliberais e fundamentalistas incrustadas no sistema e hegemonizadas neste governo, que insistem em nos manter na barbárie. O Alerta Feminista recém lançado pela Frente nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto nos apresenta um bom panorama da complexidade dessas relações e dos perigos a que estamos expostas, neste momento do país39.
Do nosso ponto de vista, a medida que a portaria impõe coerções aos profissionais de saúde e mais sofrimento às mulheres vítima da violência, como a exigência de notificação do estupro sem o consentimento da vítima à autoridade policial; elaboração de parecer por equipe multiprofissional; possibilidade da vítima visualizar o feto e o embrião através de ultrassonografia (ainda que este artigo tenha sido suprimido na nova edição da portaria) e, assinatura de um termo de responsabilidade advertindo a mulher-vítima dos crimes de falsidade ideológica e aborto, caso não tenha sido vítima de estupro, esta portaria reincorpora exigências e concepções legais conservadoras já enfrentadas e superadas no Congresso Nacional pela nossa ação organizada, como foi a jornada de luta conhecida como “Primavera Feminista”, na ocasião, contra as tentativas nefastas do então Dep. Eduardo Cunha40.
Uma mulher que decide livremente abortar por ter sido vítima de estupro é uma mulher que deseja profundamente interromper uma violência extrema a que está ou foi submetida. A sociedade tem de respeitar e o Estado tem de garantir!
Um aborto por estupro não carrega apenas os fantasmas de uma gravidez não desejada ou os traumas da interrupção de uma gestação (algo sacralizado numa sociedade patriarcal como a nossa, mesmo para nós mulheres), pois nenhuma mulher sai ilesa e feliz por se submeter a esse tipo de procedimento, mesmo quando este seja a sua vontade. Mas, por ter sido fruto de um estupro, este aborto e o episódio que o enseja, está totalmente permeado por signos que estigmatizam as mulheres ainda mais, ora como vítimas, ora como responsáveis pelo que lhes aconteceu e, ora como “corpos abjetos, disponíveis”, cristalizados numa experiência de sexualidade ainda mais objetificada, ou seja, tudo, menos o senso de que são “dignas de terem direito a ter direitos”.
E notificar essa realidade, sem o consentimento da mulher-vítima, somente amplifica esse sofrimento, já que a um só tempo, se viola a sua intimidade e lhe atribui uma dupla suspeição (a “corriqueira”, de que nós podemos ter causado a situação que culminou num estupro e, a suspeição sobre a própria vivência desse estupro). Abortar nesse caso significa interromper esse sofrimento, portanto, também precisa ser um direito para preservar não somente a vida física, mas a saúde mental das mulheres que fazem opção por ele e dele precisa. Infelizmente essa dimensão das vidas das mulheres nunca foi incorporada no conceito de vida a ser protegida pelo direito brasileiro, por isso o aborto segue criminalizado.
Então, o cuidado (integral) à saúde das mulheres, principalmente nos casos de violência sexual, que não prescinde do direito à autonomia nas suas decisões e à autodeterminação de seu corpo, devem ser as prioridades máximas nos serviços de atenção às mulheres vítimas de violência sexual, e não, a investigação criminal do violador41. E afirmar isso não implica desconsiderar a importância de atuar no freio à impunidade dos crimes. Muito pelo contrário em se tratando dos cometidos contra nós mulheres, aquela parte da humanidade majoritária da sociedade (no Brasil já somos 51% da população toda) e historicamente desconsiderada como sujeito de proteção legal e defesa social.
Não temos dúvida de que a impunidade funciona como autorização à reiteração da violência, por isso, seu combate deve ser objetivo imprescindível para qualquer Estado Democrático de Direitos. E é justo por isso, que a prioridade a que nos referimos significa apenas que há um time entre uma (a intenção do cuidado à saúde da mulher) e outra (a intenção de punição do agressor). Como o que difere a emergência do direito das mulheres vítimas de violência de abortar e a urgência delas verem seus agressores julgados e punidos no sentido da defesa social. Emergência sempre é anterior a urgência. A integralidade das políticas públicas de que tanto reclamamos no feminismo antissistêmico não é, em absoluto, a confusão ou superposição entre as políticas, mas o diálogo entre elas, considerando o conjunto de seus objetivos e particularidades. Então, não podemos correr o risco de opor uma política a outra, mas considerar o que se coloca como prioridade, pois o serviço de atenção à saúde não pode se transformar em serviço de repressão e punição.
Quando a portaria obriga a notificação dos casos de estupro, ela expõe a intimidade das mulheres, ignora totalmente seu direito de decidir, obriga os trabalhadores/as da saúde a quebrar o sigilo profissional, violando ainda mais a dignidade das vítimas e, transforma um serviço que deveria ser de acolhimento e cuidado, num espaço de advertência, suspeição, intimidação e, no limite, repressão. Com isso, desconsidera completamente todo o acumulado social e legal que se consolidou na Lei 12.845/13, aprovada durante o governo Dilma Rousseff, após vários processos de diálogo com trabalhadores/as da saúde e movimento sociais, pois esta lei inscreveu o atendimento humanizado ao abortamento e, à prevenção e tratamento dos agravos da violência sexual. Por isso, não temos dúvida de que esta ação do Estado brasileiro acarretará o aumento dos abortos em condição de clandestinidade, impondo sempre os maiores riscos às que não podem pagar por um atendimento seguro, e distanciará o Brasil ainda mais, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS) e agenda 2030 das Nações Unidas, para o qual o país segue convocado a cumprir.
Para além dos casos permitidos de interrupção da gravidez, toda recorrência ao aborto sempre será em razão da vontade das mulheres de interromper uma situação de sofrimento que se manifesta no presente, mas que tende e pode se perdurar no futuro, caso a gravidez seja mantida sem sua vontade. Daí porque abortar é um exercício de autonomia das mulheres, uma ação de responsabilidade que se faz sempre em relação, e uma ação de autodeterminação reprodutiva. Então, sendo por estupro ou pelas outras tantas e infinitas razões que levam a nós mulheres a interromper uma gestação, toda e qualquer mulher poderá estar sujeita ao aborto, razão pela qual ele precisa ser reconhecido como um direito à nós mulheres.
O direito ao aborto é uma questão de democracia

O nosso corpo, onde incide direitos reprodutivos como gravidez e aborto, somos nós mesmas, o território onde habitamos e nos singularizamos como mulheres/pessoas no mundo, como existências autônomas que reclamam a apropriação de si na relação com o/a “outro/a”, a vida coletiva e o cotidiano. Ser mulher/pessoa nesses termos aponta o imperativo ético de superarmos o despossuimento histórico e legal de nós mesmas, especialmente nas esferas da sexualidade e reprodução42. Exige recuperarmos a “posse” sobre nossos corpos, hoje totalmente apropriados pelas famílias, igrejas, empresas do capital empresarial e midiático, forças paramilitares e Estado, assumindo a construção das condições para elaborarmos e vivermos um projeto com significado próprio, situando-nos como cidadãs plenas, sujeitos de direitos que recusam a sujeição e demandam não somente a criação de novos direitos (entre os quais os reprodutivos), mas a radicalização da democracia.
Assim, direitos reprodutivos como direito de decidir sem coerção, de ter garantidos os meios legais, materiais e culturais para viver a sexualidade e a vida reprodutiva sem violência e com liberdade, são direitos contrapostos à apropriação, exploração e dominação do corpo, próprios da sociedade de mercado43. Para nós mulheres, principalmente nós negras, da classe que vive do trabalho, moradoras das periferias, se trata do exercício da autonomia, mas não como expressão de uma mera escolha ou um direito individual de liberdade, e sim, como uma questão de justiça reprodutiva, que só será possível com o enfrentamento das desigualdades nas nossas condições de vida e dos (pré)conceitos estigmatizantes contra nossa humanidade no plano simbólico. Isso porque engravidar, abortar, adotar, criar, etc., são decisões no interior de relações sociais, ocorrem em contextos econômicos, sócio-culturais e políticos que lhes dão significados, possibilidades e limites, e estão atravessados por relações de poder de gênero, raça e classe social.
Por isso, nos contextos internacionais e no brasileiro também, o avanço dos direitos reprodutivos, em especial, a legalização do aborto, está diretamente vinculado ao avanço no acesso aos direitos humanos como um todo, e ao processo de democratização da própria democracia. O contrário também é verdadeiro, ou seja, nos contextos de ódio, repressão, violência, destituição de direitos, fundamentalismo e desigualdades, como o que estamos vivendo no Brasil hoje, pós golpe institucional e ascenso do Governo Bolsonaro, são os momentos em especial, de maior ameaça e risco a esses direitos.
Estudiosas feministas como Carole Pateman44 (1989), argumentam que a forma como se concebe a organização política do Estado Moderno dependeria da liberdade e da igualdade entre os homens e da submissão das mulheres. Nesse sentido, a falta de cidadania das mulheres se apresenta como uma marca central do Estado patriarcal, racista e capitalista, um poder que enclausura a nós mulheres à condição tradicional de objetos de tutela, de vítimas passivas, no máximo, de cuidadoras, inclusive, na sua atual versão familista, na complementação das ações que ele próprio não provêm à coletividade, reificando, com isso, as assimetrias de gênero, raça e classe social que constitui e condena nossa sociedade.
Toda a insistência das mulheres brasileiras em se autodeterminar, mesmo diante dos riscos, da humilhação e sofrimento de serem criminalizadas e julgadas moralmente; todas as inúmeras mortes causadas pela incompreensível decisão do Estado Brasileiro de manter na ilegalidade decisão tão íntima como a interrupção da gravidez; toda a oneração do sistema público de saúde e do sistema de justiça criminal, não têm (co)movido a sociedade e/ou o Estado a compreender que estamos diante de um problema grave que implica as “vidas vividas”, no seu sentido mais radical, de seres humanos concretos e reais, seres humanos que com seu trabalho produtivo e reprodutivo, constroem cotidianamente este país – nós mulheres.
Um Estado de Direito que se pretende democrático há de prover democracia e inclusão cidadã, e isso não ocorrerá se não houver justiça social, se nós mulheres e meninas seguirmos objeto de tutela, se não tivermos pleno controle sobre o que se passa sobre nossos corpos, se não formos consideradas sujeitos de direitos, enfim, se não decidirmos sobre nossas vidas.
A legalidade da interrupção da gravidez é a possibilidade de implementação de ações por parte do Estado que, ao viabilizar a vivência do direito de decisão livre e de autodeterminação reprodutiva de nós mulheres, implique na possibilidade concreta de enfrentamento das assimetrias entre homens e mulheres, mas também das desigualdades entre as próprias mulheres, já que se constitui na condição básica de uma política de saúde que possa garantir os meios concretos de um atendimento equânime para todas as mulheres, independentemente da sua localização nas relações sociais de sexo/gênero, raça e classe social.
Imprescindível ao direito ao aborto, portanto, fazer valer os princípios republicanos da laicidade do Estado, da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre homens e mulheres, assim como entre as raças e a necessidade de justiça social para enfrentar todas as formas de concentração de poder e riqueza. E para que estas formalidades se tornem concretas nas vidas das mulheres reais, é preciso uma ética da responsabilidade capaz de transformar os bens e necessidades imprescindíveis ao viver, em realidades.
Então, importante educar seriamente contra o sexismo, o racismo, a lesbotransfobia e todas as formas de discriminação, transformando as escolas em lugares também de compartilhamento de saberes sobre as relações de sexo/gênero, raciais e de classe. Com isso, rechaçar as ações contra a ciência, a memória e a verdade, assim como contra a desvalorização dos saberes tradicionais e dos trabalhadores/as que lhes dão concretude são compromissos a serem assumidos.
Inadiável também revalorizar e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), recuperando sua capacidade de acolhimento às pessoas e de prevenção às enfermidades, sua função educadora, de produção de conhecimento e, principalmente, sua perspectiva de gratuidade e universalidade. Para tanto, imprescindível a integralidade entre as políticas públicas, a revogação do congelamento dos investimentos públicos nas áreas essenciais à população, a chamada PEC da morte (Emenda Constitucional n◦ 95/2016), a recuperação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres, com particular observação às negras e, o fortalecimento dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência/aborto legal, dentre tantas outras necessidades.
Nesse contexto de pauperização da sociedade é urgente também o enfrentamento às situações de empobrecimento das famílias e mulheres, de modo muito particular às negras e neste momento de pandemia, garantindo-se renda, segurança alimentar, moradia e, principalmente, trabalho com direitos. Para tanto, importa enfrentar as contradições e desigualdades presentes no mercado de trabalho formal e informal e, decorrentes das tensões entre trabalho produtivo/reprodutivo no processo de mercantilização e divisão racial da força de trabalho.
Em meio a lida com as precárias condições de vida das mulheres no Brasil é imperativo à transformação dessas, o enfrentamento ao racismo e ao patriarcado que seguem fortalecendo não somente as estruturas, mas também, uma ambiência de ódio na sociedade e nas instituições estatais. São essas que autorizam as mortes de mulheres e homens jovens, negros/as e indígenas, considerados/as perigosos/as e supérfluos, ora pelo sistema policial via suspeição, encarceramento e assassinatos; ora pelo sistema de saúde, dos/as que são deixados/as para morrer à mingua; ora ainda, pelo sistema previdenciário e até assistencial, que subtraiu as possibilidades de retaguarda financeira no presente e no futuro para essas pessoas e suas famílias, operando todas numa mesma engrenagem da política de morte, criminosamente assumida pelo atual governo federal.
É dessa forma que a legalização do aborto traz para o corpo das mulheres não somente a decisão de interromper uma gravidez indesejada e/ou não planejada, mas o imperativo de que outras dimensões de suas vidas, logo, outros direitos humanos, sejam garantidos. Não é somente uma questão de decisão individual, mas, antes e, acima de tudo, de justiça social, onde, ao mudar o que parece ser um mero detalhe, transforma-se o que estrutura o todo da desigualdade.
Por isso, nossa luta não se restringe a aquisição de mecanismos e direitos legalizados. Lutar pela legalização do aborto implica, sobretudo, na reestruturação das relações sociais e na mudança dos sentidos dessa sociedade45, o que, para nós mulheres, tem o gosto de reintegramo-nos na posse de nós mesmas e de nosso lugar na história deste país.
Sabemos que não será fácil. Nunca foi fácil! “Viver é perigoso” para nós mulheres… estamos literalmente sangrando enquanto vemos “os destinos de nossa época serem manipulados segundo visões restritas, interesses imediatos, ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos”46. Mulheres e meninas seguem tombando pela insistência de um modo de organização social que dissemina o ódio contra nós mulheres. E ainda assim, uma maioria permanece empurrando a história pela indiferença. Contemplando das janelas enquanto muitas, milhares de nós, mulheres, somos sacrificadas. Nossa sociedade está cozinhando num fogo alto a indiferença contra metade da humanidade, sem entender que logo, logo, como alertou o jovem Gramsci (2020), essa sua irresponsabilidade irá enredar, como uma erupção, não só a nós mulheres e meninas, mas todos e todas, “os/as desejantes e não desejantes, os/as que sabiam e os/as que ignoravam, os/as ativos e os/as indiferentes”47.
Nós mulheres racializadas, empobrecidas, dos campos, das águas, florestas e cidades, nos manteremos organizando nossa raiva e até, cultivando o ódio…. mas, à essa indiferença, tudo porque nossa vontade mesmo é defender a alegria. Teremos muita coragem de enfrentar o cansaço e o medo para seguirmos realizando nosso trabalho, como nos desafia Audre Lorde (1997)48, tomando nas nossas mãos, a tarefa histórica de transformarmos o mundo enquanto transformamos a nós mesmas49. Este é o nosso compromisso com nossas vidas e com a democracia que queremos vivenciar. Oxalá tenha a força suficiente para deslocar aqueles/as que insistem em ficar nas janelas, indiferentes às vidas de nós mulheres.
“Educação sexual para escolher.
Contracepção para prevenir.
Aborto legal para não Morrer!“
28 de setembro de 2020.
* Rivane Arantes é educadora e pesquisadora do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia, integra o Fórum de Mulheres de Pernambuco – FMPE/Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e o Comitê Latinoamericano e do Caribe para os Direitos das Mulheres – CLADEM/BR.
*Os cartazes são da Frente Nacional Contra a Criminalização das Mulheres e Pela Legalização do Aborto.
NOTAS:
1 Reconhecendo que não há uma essência feminina e, muito menos, uma identidade universal capaz de traduzir a pluralidade que conforma o grupo social mulher, o que nos leva a dificuldade de pensar num “nós mulheres” universal, compartilhamos do pensamento decolonial de que mulheres (e homens) são construções sócio-históricas, são pessoas situadas num dado espaço-tempo, constituídas e constituintes de relações sociais antagônicas e de poder, em suas dimensões de gênero, raça, classe social, geração, etc. Todavia, como a questão do aborto confronta as vidas do conjunto de todas as pessoas convencionalmente chamadas de mulheres, na relação com o grupo social também convencionalmente conhecido como homens, farei a opção aqui de me referir a nós mulheres e meninas na perspectiva de demarcar o aborto como um problema que implica de modo muito singular as vidas das mulheres, uma vez ser uma prática que só se realiza nestes corpos de mulheres (e não de homens). Entretanto, tentarei enfrentar as concepções que sugiram qualquer universalidade, fazendo um esforço de delinear as desigualdades de raça e classe social, principalmente, na explicitação do problema, o que já adianto, não será um desafio fácil, dado a colonização de nossos pensamentos e dos saberes disponíveis sobre a questão. Torço que, nesses termos, essas reflexões possam ser uma contribuição ao candente debate.
2 Jandira Magdalena dos Santos Cruz e Elizângela Barbosa, dois casos de grande repercussão no Rio de Janeiro, faleceram decorrentes de aborto clandestino no ano de 2017 (Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000301159 acessado em 13.09.2020)
3 Refere-se ao caso ocorrido em 2009 quando uma menina de 9 anos de idade, residente em Alagoinha/Pernambuco vítima de estupro cometido pelo padrasto, teve acesso ao aborto legal. A garota teve uma gravidez de gêmeos e, sob forte pressão dos movimentos de mulheres e feministas no Recife, conseguiu garantir seu direito ao aborto. Na ocasião, a mãe da menina-vítima além de ser ameaçada de criminalização pelas autoridades policiais foi excomungada pelo então arcebispo do Recife, juntamente com os trabalhadores/as da saúde que realizaram o procedimento do aborto legal. (http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1034805-5598,00-MAE+DE+MENINA+QUE+REALIZOU+ABORTO+DEVE+SER+OUVIDA+PELA+POLICIA.html acessado em 22.09.2020).
4 Refere-se ao recente caso ocorrido em agosto de 2020 onde outra menina, desta vez uma garota negra, de 10 anos e moradora da cidade de São Mateus/Espírito Santo, estuprada pelo seu tio adulto, dos 6 aos 10 anos de idade, engravidou durante o isolamento social da pandemia do covid-19. Esta garota teve seu direito ao aborto legal negado no estado de origem, por recusa dos profissionais de saúde, além de ter sofrido investidas por parte de representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, sendo transferida sigilosamente ao Recife, para interromper a gravidez. Esta informação foi vazada nas mídias e redes sociais e insuflou as forças contrárias ao aborto. Assim, no hospital em Recife onde o aborto foi realizado, parlamentares e religiosos/as cristãos fundamentalistas se aglomeraram para impedir o acesso da menina ao seu legítimo direito de abortar, intimidando os trabalhadores/as da saúde, assim como a garota e sua avó. Todavia, o movimento de mulheres e feminista, assim como parlamentares comprometidos com os direitos humanos das mulheres, estiveram presentes, apoiando-as, denunciando a ação fundamentalista e, garantindo o acesso dela ao direito ao aborto legal. (https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-16/menina-de-10-anos-violentada-fara-aborto-legal-sob-alarde-de-conservadores-a-porta-do-hospital.html e https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-18/menina-estuprada-sofreu-acosso-de-ultraconservadores-ate-dentro-de-hospital.html acessados em 24.09.2020).
5 Fonte: https://www.geledes.org.br/justica-reprodutiva-ou-direitos-reprodutivos-o-que-as-mulheres-negras-querem/ Acessado em 20.09.2020.
6 ÀVILA, Maria Betânia e GOUVEIA, Taciana. Notas sobre direitos reprodutivos e direitos sexuais In: PARKER, Richard e BARBOSA, Regina Maria (org). Sexualidades Brasileiras. Rio de janeiro: Relume Dumará: ABIA: IMS/UERJ, 1996.
7 ÁVILA, Maria Betânia. Autonomia física, direitos reprodutivos e direitos sexuais: reflexões críticas. Painel proferido na XIII Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe (CEPAL). Montevideo, 2016.
8 MACHADO, Lia Zanota. O aborto como direito e o aborto como crime: o retrocesso neoconservador. Cadernos Pagu (50), 2017:e17504.
9 HERRERA FLORES, JOAQUÍN. A reinvenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.
10 GRAMSCI, Antonio. Três princípios, três ordens. Odeio os Indiferentes: escritos de 1917. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
11 ÁVILA, Maria Betânia. Democracia e a legalização da prática do aborto. Recife: SOS Corpo, s/d. (mimeo).
12 Para maior conhecimento acessar: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/13/interna_gerais,1061465/maes-sao-impedidas-de-amamentar-em-galeria-de-exposicao-em-bh.shtml Acessado em 23.09.20.
https://catracalivre.com.br/cidadania/mulher-e-impedida-de-amamentar-em-terminal-de-onibus-no-abc/#:~:text=A%20passageira%20Thais%20Magalh%C3%A3es%2C%20de,desta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%2010 Acessado em 23.09.20.
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/mae-diz-que-segurancas-de-terminal-no-abc-a-impediram-de-amamentar-atentado-violento-ao-pudor-alegaram.ghtml Acessado em 23.09.20.
https://cidadeverde.com/noticias/204923/mae-e-constrangida-por-amamentar-em-restaurante-na-zona-leste-e-grupo-faz-mamaco Acessado em 23.09.20.
13 Amicus Curiae apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia na ADPF n◦ 442 (file:///C:/Users/sos%20corpo/Downloads/Amicus%20Curiae%20SOS%20Corpo%20Instituto%20Feminista%20para%20a%20Democracia.pdf acessado em 23.09.2020).
14 Conferência de Ângela Davis intitulada “Atravessando o tempo e construindo o futuro da luta contra o racismo”, realizada na UFBA em 2017 (https://medium.com/revista-subjetiva/transcri%C3%A7%C3%A3o-da-palestra-de-angela-davis-atravessando-o-tempo-e-construindo-o-futuro-da-luta-contra-6484111fe25a acessado em 21.09.2020).
15DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia. Rio de janeiro: Jose Olympio. Brasilia, DF: Edunb, 1993.
16 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I. A vontade de saber. 7. Ed Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
17 CARNEIRO, Sueli. Biopoder. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011.
18 Fonte: https://outraspalavras.net/feminismos/mulheres-em-conflito-com-a-lei-e-a-ordem/ acessado em 19.09.21
19 Fonte: Revista Ciência & Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 0486/2016 In: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/pesquisa-nacional-de-aborto-2016/15912?id=15912 acessado em 19.09.2020.
20 Amicus Curiae apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia na ADPF n◦ 442 (file:///C:/Users/sos%20corpo/Downloads/Amicus%20Curiae%20SOS%20Corpo%20Instituto%20Feminista%20para%20a%20Democracia.pdf acessado em 23.09.2020).
21 Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019 (http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf acessado em 21.09.20).
22 Nota técnica “Violência doméstica durante a pandemia do covid -19” (https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/06/violencia-domestica-covid-19-ed02-v5.pdf acessado em 21.09.202).
23 Fonte: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/09/16/assassinatos-de-mulheres-sobem-no-1o-semestre-no-brasil-mas-agressoes-e-estupros-caem-especialistas-apontam-subnotificacao-durante-pandemia.ghtml acessado em 21.09.21.
24 Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-30/abortos-legais-em-hospitais-referencia-no-brasil-disparam-na-pandemia-e-expoem-drama-da-violencia-sexual.html acessado em 21.09.20.
25 Segundo dados do Boletim Epidemiológico n◦ 20/Ministério da Saúde (Maio 2020) – Mortalidade Materna no Brasil, o aborto foi uma das quatro causas obstétricas indiretas que causaram os óbitos maternos no Brasil entre 1996 e 2018 (https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/mortalidade-materna-no-brasil-boletim-epidemiologico-n-o-20-ms-maio-2020/ acessado em 23.09.2020).
26 Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais? (https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020001305001 acessado em 23.09.2020).
27 Fonte: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5741:folha-informativa-mortalidade-materna&Itemid=820 acessado em 21.09.2020.
28 Na América Latina somente no Uruguai, Cuba e México o aborto é descriminalizado sem restrições.
29 Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/politica/1502413757_091099.html acessado em 21.09.2020.
30 Mapa do Aborto Legal – Artigo 19 (https://mapaabortolegal.org/sobre-o-mapa/ acessado em 23.09.20).
31 Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-30/abortos-legais-em-hospitais-referencia-no-brasil-disparam-na-pandemia-e-expoem-drama-da-violencia-sexual.html acessado em 21.09.20.
32 Portaria 2.282/20 do MS que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no Sistema Único de Saúde (SUS).
33 Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/20/sus-fez-809-mil-procedimentos-apos-abortos-malsucedidos-e-1024-interrupcoes-de-gravidez-previstas-em-lei-no-1o-semestre-de-2020.ghtml acessado em 13.09.2020.
34 Pesquisa Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais (https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020001305001&tlng=pt acessada em 13.09.2020.
35 Amicus Curiae apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia na ADPF n◦ 442 (file:///C:/Users/sos%20corpo/Downloads/Amicus%20Curiae%20SOS%20Corpo%20Instituto%20Feminista%20para%20a%20Democracia.pdf acessado em 23.09.2020).
36 Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/so-um-pl-propos-a-descriminalizacao-do-aborto-no-brasil-na-ultima-decada/ acessado em 21.09.20.
37 Fonte: http://www.generonumero.media/estupro-congresso-imprensa-aborto/ acessado em 21.09.2020.
38 Dossiê “Reações da sociedade brasileira contra a Portaria n◦ 2.282 de 27/08/2020 (https://www.cfemea.org.br/images/stories/DOSSIE_sobre_Portaria_do_MS_2282_de_2020_rev3.pdf acessado em 23.09.2020).
39 Alerta Feminista (https://frentelegalizacaoaborto.files.wordpress.com/2020/09/alerta-feminista_set2020.pdf acessado em 23.09.2020).
40 Para uma visão mais apurada sobre as implicações da portaria 2.282/20 consultar análise do Cfemea (https://www.cfemea.org.br/index.php/alerta-feminista/4837-depois-do-caso-da-menina-do-es-ministerio-da-saude-divulga-portaria-que-dificulta-o-acesso-ao-aborto-legal acessado em 22.09.2020).
41 BOUJIKIAN, Kenarik. A portaria 2.282 do Ministério da Saúde e a infância interrompida (https://www.conjur.com.br/2020-set-02/escritos-mulher-portaria-2282ms-infancia-interrompida?imprimir=1 acessado em 23.09.2020).
42 ÁVILA, Maria Betânia e CORREIA, Sonia. O movimento de saúde e direitos reprodutivos no Brasil: revisitando percursos. In: GALVÃO, Loren e DÍAZ, Juan (org). Saúde Sexual e Reprodutiva no Brasil: Dilemas e Desafios. São Paulo: Hucitec; Population Council, 1999.
43 ÁVILA, Maria Betânia. Autonomia física, direitos reprodutivos e direitos sexuais: reflexões críticas. Painel proferido na XIII Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe (CEPAL). Montevideo, 2016.
44 PATEMAN, Carole. The disorder of Women: democracy, Feminism and Political Theory. Stanford, Stanford University Press, 1989.
45 ÁVILA, Maria Betânia. Feminismo y cidadania: la produccion de novos derechos. In: SCAVONE, Lucila (comp.). Género y salud reproductiva en América Latina. Cartago: Libro Universitario Regional,1999.
46 GRAMSCI, Antonio. Indiferentes. Odeio os indiferentes: escritos de 1917. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
47 Idem.
48 LORDE, Audre. A transformação do silêncio em linguagem e ação (https://www.geledes.org.br/a-transformacao-do-silencio-em-linguagem-e-acao/ acessado em 21.09.2020).
49 OLIVEIRA, Guacira César de. O desafio de transformar o mundo enquanto nos transformamos (https://www.mujeresdelsur-afm.org/3er-dialogo-feminista-nairobi-2007/ acessado em 21.09.2020).