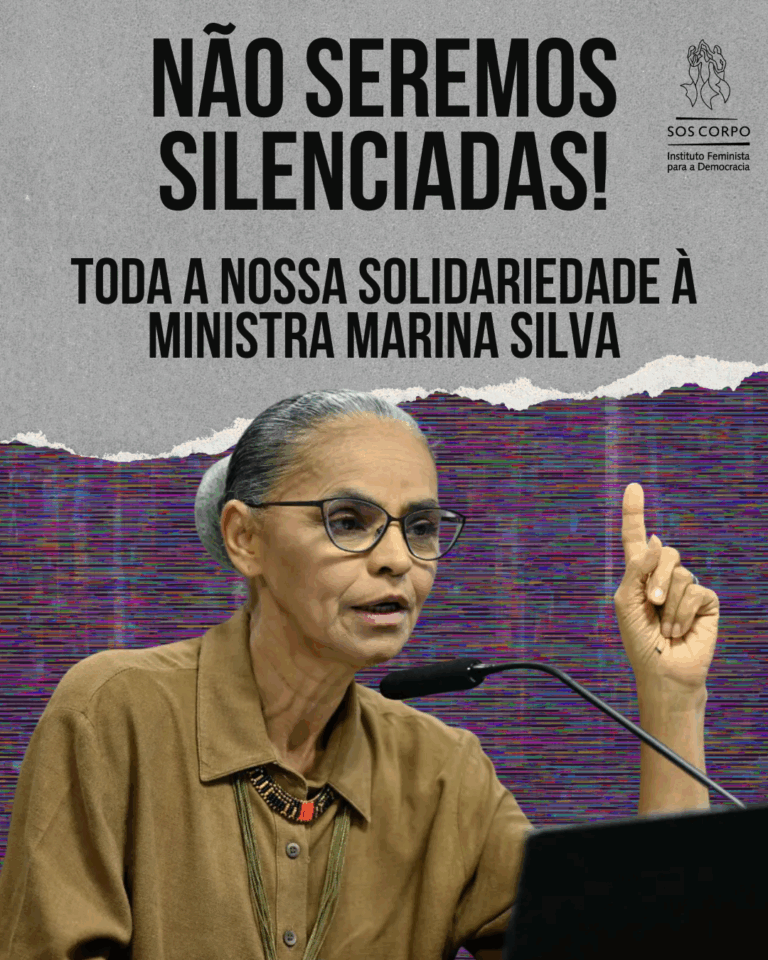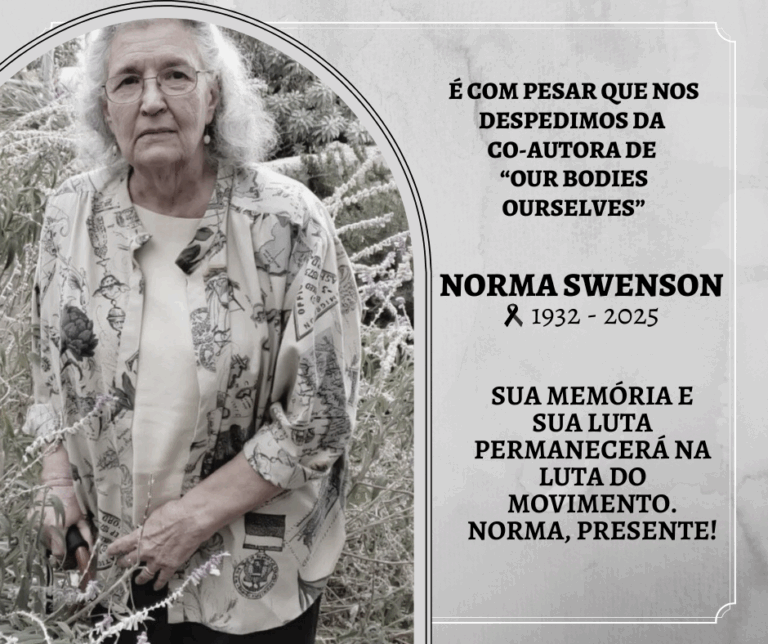Manifesto do Conselho Federal de Serviço Social relembra data em que se iniciou a ditadura

“Estamos convictas de que é preciso relembrar ainda mais enfaticamente essa data (1º de abril, marco do inicio da ditadura civil-militar no Brasil em 1964), pois esse ‘filme’, que não desejamos rever, nos ronda como um espectro. O espectro que é portador de uma antiga e reiterada característica de nossa formação social: a tradição autoritária, escravocrata, elitista e antipopular, que sempre utilizou o Estado em favor dos interesses da acumulação do capital, retirando das classes trabalhadoras a possibilidade de construir mecanismos de apropriação das instâncias decisórias e de acesso a bens e serviços”.
Nesta segunda-feira, 2 de abril, Conselho Federal de Serviço Social – CFESS lançou um novo manifesto, com uma análise crítica acerca da intervenção militar no Rio de Janeiro (RJ), a morte da vereadora Marielle Franco (PSol) e o fantasma de instalação de um novo regime ditatorial.
O CFESS Manifesta reafirma o momento de resistência, enfatizando o poder de mobilização desencadeado pelo assassinato de Marielle Franco, que reverberou nas vozes gente no Brasil e no mundo. “E já por conta dessa reação, as lições de mais de 30 anos de democracia demonstram suas contradições: a sociedade brasileira em 2018 pode até se parecer com a de 1964, mas não é mais a mesma. Portanto, retomar a velha tradição autocrática dos anos da ditadura empresarial militar não será um percurso isento de resistências”, diz outro trecho do manifesto.
Segue a integra do documento que pode ser visualizado aqui:
Ontem, dia 1º de abril de 2018, o golpe civil e militar completou 54 anos. Essa data tem sido utilizada, para que não nos esqueçamos de lições aprendidas a duras penas e que não mais queremos ver se repetir na história de nosso país.
Em 2018, diante da intervenção civil e militar na cidade do Rio de Janeiro, com a instalação de um “Gabinete de Segurança Institucional” ligado ao governo federal e do assassinato da vereadora Marielle Franco, estamos convictas de que é preciso relembrar ainda mais enfaticamente essa data, pois esse “filme”, que não desejamos rever, nos ronda como um espectro. O espectro que é portador de uma antiga e reiterada característica de nossa formação social: a tradição autoritária, escravocrata, elitista e antipopular, que sempre utilizou o Estado em favor dos interesses da acumulação do capital, retirando das classes trabalhadoras a possibilidade de construir mecanismos de apropriação das instâncias decisórias e de acesso a bens e serviços.
Essa tendência, por sua vez, é funcional ao modo de produção capitalista em momentos de crise. Na expressão “capitalismo democrático”, o substantivo é o capitalismo. A democracia é tão somente um adjetivo e, como tal, diante de crises, tem sido absolutamente dispensável. É desse modo que procedem as elites econômicas mundiais formatando os limites do Estado capitalista, por meio das determinações emanadas de organismos multilaterais – instâncias de decisão supranacionais que comandam os países, especialmente os de capitalismo periférico, apropriando-se avidamente de seus recursos econômicos e naturais e, sobretudo, impondo a quase total ausência de regulação para o aprofundamento da exploração da força de trabalho.
Retomar, ainda que sinteticamente, esse patamar de agressividade do capitalismo mundial nos parece essencial, para analisar esses dois fatos recentes da conjuntura, que estão conectados a essa dinâmica de apropriação privada da totalidade da vida social sem qualquer “reserva” ou “limite civilizatório”. Muito já se disse sobre esses episódios que ocorrem, não por acaso, no Rio de Janeiro – estado que, desde 2016, parece ter sido escolhido como uma espécie de “laboratório” para testagem dos limites ao desfinanciamento do chamado Estado Democrático no Brasil.  Alegando-se a “falência” orçamentária oriunda das dívidas internas e da corrupção, instalou-se o caos traduzido nas dificuldades de garantir o acesso aos serviços públicos essenciais à população. Esse caos afeta ainda, entre outras dimensões, a vida de milhares de trabalhadores/as do serviço público com condições de trabalho precarizadas, salários atrasados e que têm sido alvo de uma repressão duríssima ao seu direito de manifestação.
Alegando-se a “falência” orçamentária oriunda das dívidas internas e da corrupção, instalou-se o caos traduzido nas dificuldades de garantir o acesso aos serviços públicos essenciais à população. Esse caos afeta ainda, entre outras dimensões, a vida de milhares de trabalhadores/as do serviço público com condições de trabalho precarizadas, salários atrasados e que têm sido alvo de uma repressão duríssima ao seu direito de manifestação.
Não podemos naturalizar tais episódios que pensávamos improváveis há pouquíssimos anos, quando imaginávamos ter a segurança jurídico-política própria de um ambiente democrático. Hoje, a sensação de que as instituições democráticas não estão consolidadas vem, de um lado, do agigantamento do Poder Executivo, cuja tendência à militarização é crescente e, de outro, de uma articulada “promiscuidade” entre o Legislativo e o Judiciário, que conferem “ares de legalidade” às mais óbvias violações dos direitos constitucionais. Novamente aí parecem cenas do “filme” reprisado, no qual toda uma movimentação se construiu há 54 anos, para justificar um Estado de Exceção sem regramento constitucional. Novamente aí não devemos esquecer que os “personagens” do “filme” reprisado que se anuncia são apenas os rostos visíveis que escondem o que realmente movimenta esse “roteiro”: os interesses econômicos de uma elite composta por 6 famílias, que concentram uma riqueza equivalente à que está nas mãos de metade da população desse país, segundo dados da Oxfam. Colocar “em segurança” esses capitais requer, nesse momento, o recurso à mais brutal violência física e psicológica que caracteriza a militarização da vida social.
O discurso da “segurança nacional” aparece como sinônimo de estabilidade e solução para a “crise” provocada pela grande vilã desse “filme”: a democracia – regime “permissivo” que produziu o enriquecimento ilícito e corrupto de parte da classe política brasileira. Esse argumento, repetido diariamente pelos monopólios midiáticos, já fomentou em grande parte da população a ojeriza ao debate político (expressa nos altos índices de abstenção das últimas eleições municipais) e criou um clima “antidemocrático” associado ao terrorismo difuso do “medo social” – expresso no preconceito dirigido ao/às pobres segregados/as em determinados espaços do esgarçado tecido urbano: favelas e periferias. O sistemático extermínio desse segmento – que já ocorria antes pelas mãos da polícia militar, sob o argumento da “guerra às drogas”, levando o Brasil a ocupar o terceiro lugar em volume de população carcerária – cresce com a intervenção federal, que promete se ampliar para outros estados.
Todos/as sabemos que a população carcerária é composta por mais de 60% de jovens negros/as e que essa prioridade coercitiva no trato da “questão social” custa muito mais ao Estado brasileiro que os investimentos em políticas públicas – ainda mais se lembrarmos que seu orçamento está congelado por 20 anos, nos termos da Emenda Constitucional 95. Para voltar ao Rio de Janeiro, dados apresentados por Felipe Brito, em texto publicado pelo blog da Boitempo em 14 de março de 2018, informam que a “ocupação” militar da favela da Maré custou ao fundo público 441 milhões de reais (dados do Ministério da Defesa), enquanto, de “2009 a 2015, os gastos com projetos sociais da prefeitura na comunidade foram de 303,6 milhões de reais”.
Mas o fato que se acentua com o assassinato de Marielle Franco é a necessidade de avançar na tática de intimidação das/o lutadoras/es desse país. Não basta criminalizar e exterminar a população pobre e negra, que é uma ameaça à propriedade privada. É preciso calar aqueles/as que podem denunciar e organizar essa insatisfação dos/as “de baixo”. É preciso calar os sujeitos que protagonizam a apropriação coletiva de valores e princípios vividos nesses anos de democracia e que potencializam esse aprendizado no sentido emancipatório. Desde 2016, com a vigência da lei anti-terrorismo, esse recado vem sendo dado e, mesmo assim, a mobilização
produzida no último ano conseguiu frear a contrarreforma da previdência social. Não por acaso, em seguida à essa derrota das classes dominantes, se inicia a intervenção federal no Rio de Janeiro e, menos de um mês depois, Marielle é escolhida para dar visibilidade a uma sequência de execuções que, de janeiro até o momento, já contabiliza ao menos 12 mortes de ativistas de direitos humanos, conforme dados da Anistia Internacional.
Mas a resposta coletiva a essa ofensiva de violência e intimidação não será o medo. O poder de mobilização desencadeado pelo assassinato de Marielle Franco foi impressionante e tem reverberado nas vozes de brasileiros/as, mas não só, pois foram registradas grandes repercussões na imprensa internacional e manifestações em Londres, Paris, Madri, Munique, Estocolmo, Lisboa e Nova York. E já por conta dessa reação, as lições de mais de 30 anos de democracia demonstram suas contradições: a sociedade brasileira em 2018 pode até se parecer com a de 1964, mas não é mais a mesma. Portanto, retomar a velha tradição autocrática dos anos da ditadura empresarial militar não será um percurso isento de resistências.
Nós, assistentes sociais, fazemos parte desse contingente da população brasileira que mudou e aprendeu bastante na vigência da democracia. Somos parte e estamos solidários/as aos/ às trabalhadores/as negros/as e pobres que são explorados/as, oprimidos/as e violentados/as nesse país. No Conjunto CFESS-CRESS, temos afirmado que A nossa escolha é a resistência e, com esse espírito, convocamos assistentes sociais brasileiro/as a não se calarem. Não à intervenção no Rio de Janeiro! Marielle, presente! 1964 não se repetirá!