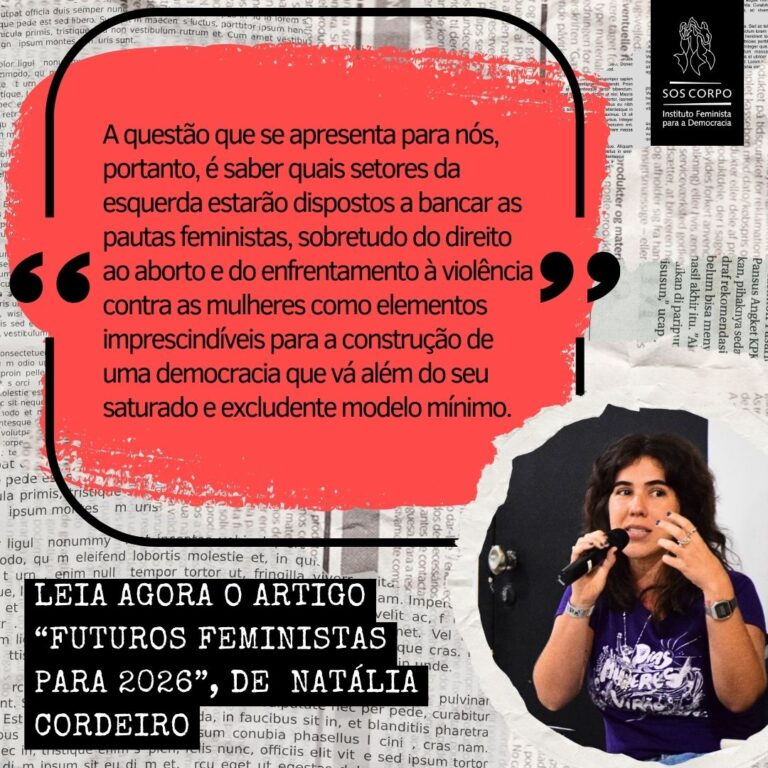Desmilitarizar a segurança pública: o que é isso?

Policiais explicam o que significa uma política de segurança pública militarizada, por que é necessário desmilitarizá-la e desconstroem equívocos sobre o tema. Afinal, desmilitarizar não é sinônimo de extinguir a PM ou retirar seu caráter militar.
Reportagem de Luiza Sansão para o site Outras Palavras
“Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da Polícia Militar!”. Quem nunca ouviu esta palavra de ordem, entoada a cada manifestação popular? Não importa o motivo do protesto, ela sempre aparece diversas vezes ao longo das passeatas. Até porque é geralmente a PM — que, por ser polícia ostensiva, tem a responsabilidade de fazer o controle da multidão — que reprime violentamente as manifestações, com bombas de gás, sprays de pimenta, cassetetes e nenhuma empatia.
A cena é clássica e o que o grito pelo fim da PM pede, na realidade, é a desmilitarização— o que, entretanto, não tem nada a ver com a extinção da PM ou a retirada de seu caráter militar, pura e simplesmente.
O que ocorre é que, embora a bandeira da desmilitarização seja praticamente uma unanimidade no campo progressista do país, na prática não vemos avançar o debate sobre o que realmente representa a militarização e, consequentemente, o entendimento real sobre por que a desmilitarização se faz tão necessária.
Vamos começar pela compreensão de que não se trata de uma polícia militarizada, mas de uma política de segurança pública militarizada. Não basta retirar o caráter militar das polícias — e a PM não é única polícia militarizada —, é preciso desvincular as forças policiais das Forças Armadas.
“Pode ter estética militar. Só não pode ter uma coisa, e é isso que caracteriza uma polícia militar: ser uma força auxiliar do Exército. Isso é uma polícia militar: uma força auxiliar do Exército. E o que significa isso? A gente ainda não aprofundou esse debate”. As palavras do delegado Orlando Zaccone, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, introduziram um dos mais importantes temas tratados no II Seminário dos Policiais Antifascismo, que ocorreu nos dias 14 e 15 de março, como parte das atividades do Fórum Social Mundial 2018, em Salvador (BA).
A primeira mesa do evento discutiu a intervenção militar no controle das polícias — debate mais do que oportuno, sobretudo no contexto que vivemos hoje no estado do Rio de Janeiro, sob intervenção federal desde fevereiro. Uma das principais pautas do movimento é justamente a necessidade da desmilitarização da política de segurança pública: os policiais se colocam contra a participação das Forças Armadas na área de segurança e a existência de uma polícia que seja auxiliar do Exército — o que, segundo Zaccone, quebra a estrutura de uma democracia no que diz respeito às suas polícias.
“A garotada na rua pede o fim da polícia militar. É a maneira como eles se expressam. Mas, no campo político, isso não avança em nada. Porque pode trocar de nome, mas não adianta nada se ela continuar sendo uma força auxiliar do Exército”, explica o delegado.
O auditório da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA) estava lotado. Eram dezenas de civis e agentes de instituições policiais de várias partes do país. Talvez o interesse pelo tema nunca tenha sido tão grande quanto nesses tempos em que o modelo atual de segurança mostra-se tão absolutamente fracassado e ineficaz, baseado na lógica do confronto, da violência, sustentado principalmente pelo discurso falacioso da “guerra às drogas”.
Lá não estavam policiais adeptos do pensamento reacionário representado pela Bancada da Bala, que, infelizmente, ainda predomina nas instituições policiais, amparado por significativa parcela da sociedade. A maioria dos agentes queria conhecer as ideias dos policiais progressistas que propuseram os dois dias de debates — e se juntar a eles, como vi acontecer ao final do segundo dia do evento.
Criado em 2016, o movimento Policiais Antifascismo reúne agentes das forças de segurança de diferentes estados brasileiros unidos na luta por transformações na política vigente. O grupo defende a necessidade da construção do policial como um trabalhador, para que, uma vez identificado com outras categorias de trabalhadores, ele seja também um cidadão pleno de direitos e garantidor dos direitos de todos os cidadãos — em vez de um violador, como é frequente observarmos na relação das forças policiais com a sociedade, notoriamente com as parcelas pobres que habitam as periferias.
Tive a oportunidade de acompanhar a idealização e o surgimento do movimento, tendo publicado, em janeiro de 2016, a reportagem especial Eles querem uma nova polícia — para a qual entrevistei grande parte dos policiais que o fundaram pouco depois.
E, mais de um ano antes, quando conheci policiais da LEAP Brasil (Law Enforcement Against Prohibition) — cuja tradução, no Brasil, é Agentes da Lei contra a Proibição —, escrevi sobre suas ideias na matéria Grupo de policiais defende a legalização de todas as drogas, publicada em dezembro de 2014.
Militarização desumaniza e rebaixa policiais à categoria de subcidadãos
É cada vez mais conhecido pela sociedade o preço que as parcelas mais vulneráveis da população pagam pela militarização, sobretudo no que diz respeito às constantes violações de direitos humanos praticadas por policiais contra moradores de favelas, cotidianamente.
Mas muita gente ainda ignora a relação dessa realidade violenta que resulta em altas taxas de letalidade com o preço pago pelos próprios policiais dentro das instituições militares.
“Policiais militares estão submetidos a condições de subcidadania. Não podem se sindicalizar, não podem fazer greve, não têm direito à livre manifestação de pensamento, não podem ter filiação partidária. São subcidadãos”, afirma Zaccone.

Essas são algumas das razões pelas quais 73,7% dos praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) são favoráveis à desmilitarização, como apontou pesquisa divulgada em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (FGV-SP) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão do Ministério da Justiça.
O projeto encontra resistência entre oficiais, por uma questão de manutenção de poder, como disse o tenente da PM cearense Anderson Duarte em entrevista mais de dois anos atrás. “Embora nem todo policial seja um tirano, o sistema militar permite a tirania. A tirania se dissemina do coronel ao soldado e vai desaguar no cidadão”, afirmou ele, que é um dos fundadores do movimento Policiais Antifascismo.
Ele escreve no blog Policial Pensador, criado com a ideia de ampliar o debate sobre polícia e política de segurança pública, a partir da visão dos próprios policiais.
O que Duarte colocou está diretamente ligado a uma das principais bandeiras dos Policiais Antifascismo: a de que construir os policiais como trabalhadores é condição fundamental para transformar a forma como eles se relacionam com os demais cidadãos.
Neste mesmo contexto, o movimento também impulsiona luta contra as prisões disciplinares ou administrativas, instrumento inconstitucional que viola os direitos dos policiais, favorece abusos de oficiais contra praças na PM e aprofunda a violência policial — como mostrei na reportagem especial Prisões arbitrárias: quando a vítima é a própria PM, publicada em novembro do ano passado.
“Precisamos construir os policiais como trabalhadores para que eles possam se reconhecer na luta dos outros trabalhadores”
Afinal, como o policial pode cumprir sua função de garantidor dos direitos dos cidadãos se ele mesmo não tem seus direitos garantidos? Esta é uma das questões que se colocam quando estamos diante das graves violações de direitos praticadas por policiais contra, principalmente, as populações faveladas e periféricas. Como esperar que pessoas sem direito à cidadania realmente respeitem a cidadania de outrem?
“O que leva um policial a baixar a borracha numa manifestação de professores pela melhoria da Educação, sabendo que muitas vezes o filho do próprio policial está naquele sistema de Educação pública? É que ele não consegue se reconhecer, ele é desconstruído na sua condição de trabalhador”, defende Zaccone.
“Só existe um momento em que o policial se reconhece como trabalhador: quando ele fica sem salário. É só quando cortam seu salário que ele lembra que é um trabalhador. Mas não pode ser isso, não podemos continuar nessa perspectiva. Nós temos que mudar esse jogo”.
Obediência cega e tentativa de acabar com diferenças são marcas do militarismo, diz policial LGBT
Para muitos, as principais marcas do militarismo são a hierarquia e a disciplina. Mas, para o policial rodoviário federal Fabrícia Rosa, que foi PM durante cinco anos, as principais características do militarismo são a obediência cega que sustenta essa estrutura e a tentativa de destruir diferenças.
“Hierarquia e disciplina existem em qualquer lugar. Em famílias, em empresas. Em alguns lugares mais, em outros menos. Não são a hierarquia e a disciplina de fato que diferenciam as organizações militares. O que as diferencia, primeiro, é a obediência. É a obediência em fazer com que essa hierarquia seja implementada de tal forma que nos leva ao ponto de não questionar ordens, mesmo que elas sejam ilegais e ilegítimas”, critica.

Segundo Rosa, “por uma questão orgânica, de autoproteção”, o militar precisava, no passado, de uma unidade de comando, de muita organização e de pessoas que não questionassem essa estrutura — o que, hoje, se traduz na tentativa de “acabar com as subjetividades, com as diferenças”, que ele considera outra marca fortíssima do militarismo.
“Há uma tentativa de acabar com as subjetividades, de padronizar o pensamento, o cabelo, a roupa, a unha, o brinco. Uma padronização de tudo. Essas são, para mim, as características principais do militarismo. E elas não deveriam estar presentes na segurança pública que nós propomos, que é uma segurança plural e inclusiva, na qual a comunidade policiada se pareça com quem vai lhe policiar. Que tenha mulher, imigrante, gay, que tem uma diversidade de pessoas, como existe no mundo. Esta é a segurança pública que nós propomos, com maior participação popular”, afirma.

Construção de estereótipo e discriminação de gênero
Não é difícil imaginar que a realidade das mulheres nas polícias militares é dura, especialmente das praças, que sofrem assédios morais e sexuais desde que ingressam no processo de formação da PM.
No Especial Assédios na PM, publicado em março do ano passado, contei histórias de policiais de diferentes regiões do país, que evidenciam diversas maneiras com que o preconceito de gênero se manifesta no interior de instituições militares.
“Nós construímos o perfil de um policial como um homem forte, que carrega o arquétipo de guerreiro. Então ele vai ser um cara bom de briga, que vai lutar, que vai estar armado. Um cara. Um cara. Porque as mulheres são excluídas dos processos de segurança pública. A gente tem que se juntar contra isso. É um absurdo que estejamos em 2018 e ainda precisemos falar sobre isso”, diz Rosa, que é gay e integra a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT (RENOSP).

Como exemplo, ele citou a existência de uma cláusula de barreira nos editais das polícias militares e muitas das guardas municipais brasileiras que dificulta o ingresso de mulheres.
“Se nós temos mil vagas e aquela PM só aceita 10% de mulheres, a 101ª colocada não vai entrar. E ela não vai entrar não é porque não é forte, porque ela pode ser até uma halterofilista, mas não vai entrar porque não tem um pênis. Então a questão não é a força, até porque na PM nós não utilizamos a força o tempo todo”, afirma.
A figura do homem forte construída nesse imaginário, segundo ele, “encara a segurança pública, que deveria ser cuidado e proteção, como uma guerra, como violência, excluindo as diferenças. “Excluímos as pessoas LGBTs em processos informais, nas entrelinhas da segurança pública”, critica o policial.
Militarização não se limita à PM
O inspetor da Polícia Civil de Pernambuco Áureo Cisneiros chama a atenção para o fato de a militarização não se restringir às polícias militares. “A Polícia Civil, que era para ser diferenciada, de investigação, de inteligência, também é militarizada”, afirma.
“Em Pernambuco temos o Grupo de Operações Especiais (GOE), que faz treinamento militar na academia da Polícia Militar. Temos, na PM, o Comando de Operações Especiais (COE), que faz treinamento no Exército, uma polícia do Exército. E não era pra ter GOE, não era pra ter COE. Era pra focar em investigação. Porque a cada 100 homicídios em Pernambuco, a polícia só esclarece oito. Porque não assume a sua função de investigação, sua função de inteligência”, critica.
“A gente cansa de ver policial fardado na própria delegacia, fazendo investigação fardado. A gente cansa de ver o GOE ajudando a Polícia Militar na rua em vez de fazer seu trabalho de investigação, principalmente de homicídios”.
No Rio, a situação não difere muito da descrita pelo policial pernambucano. Aqui, a Coordenadoria de Operações Especiais (Core), embora seja da Polícia Civil, nas operações realizadas em favelas, opera de forma semelhante às unidades da PM, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), por exemplo, praticando as mesmas violações de direitos humanos.
“A Core é treinada para atuar de forma militarizada. O uso do Caveirão revela que uma Polícia Civil pode ser tão militarizada quanto uma Polícia Militar”, diz Zaccone, referindo-se ao veículo blindado da PM, considerado como o “carro da morte” por moradores de favelas — como mostrei em reportagem publicada em dezembro.
“As polícias civis em geral têm atuado de forma militarizada. Usam os mesmos equipamentos e operam na lógica do confronto, do enfrentamento”, completa.

Mas, embora a Polícia Civil atue de forma militarizada, seus agentes não estão submetidos a um estatuto militar, nem às mesmas sanções, como as arbitrárias prisões disciplinares ou administrativas, lembra o delegado.
Por isso, segundo Zaccone, a transformação deve começar pela retirada do marco militar da segurança pública, isto é, os policiais militares precisam deixar de estar submetidos a um estatuto militar. “A primeira e mais urgente mudança precisa ser a institucional, porque não podemos admitir que policiais sejam tratados como soldados”, diz. Isto já implicaria em uma mudança na relação desses policiais, hoje desprovidos de direitos, com a sociedade. Este seria, para o delegado, um importante passo na direção da construção dos policiais como trabalhadores da segurança pública.
O embrião da militarização da segurança pública no Brasil
Após o fim da Ditadura Militar brasileira (1964-1985), os militares deram um jeito de não largar completamente o osso. No período posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, eles se entranharam na área da segurança pública com outros “dois golpes”, segundo Orlando Zaccone: além do estabelecimento de uma polícia que fosse uma força auxiliar do Exército, foi incluído na Constituição o artigo 142, que o delegado chama de “ovo da serpente”.
É ele que regula as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que “concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade”, de acordo com o portal do Ministério da Defesa. Trata-se, portanto, do dispositivo que possibilitou a intervenção federal que está em curso no Rio de Janeiro.

“O artigo 142 da Constituição diz expressamente que cabe às Forças Armadas intervir na ordem interna para a garantia dessa ordem interna, garantindo o funcionamento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Pelo amor de Deus! Não são as Forças Armadas que têm que garantir o funcionamento dos poderes constituídos. Ao contrário: são os poderes constituídos que têm que garantir o controle das Forças Armadas!”, enfatiza Zaccone.
Assim, a GLO e a presença de uma polícia auxiliar do Exército são, para o delegado, “o embrião da militarização da segurança pública no país”. Ele acredita que nada avançará no debate sobre a necessidade de desmilitarização se nos ativermos somente a “aspectos estéticos” e que é preciso discutir a questão dentro de uma perspectiva transformadora.
Uma “quebra” na democracia
“O povo escolhe o governador. Cabe a esse governador ter plena autonomia sobre essa polícia, porque nós, cidadãos, ao elegermos esse governador, podemos cobrar dele ações dessa polícia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro no Caso Amarildo”, explica o delegado, que foi diretamente responsável pelo não arquivamento do referido caso, no qual atuou.
O morador da Rocinha Amarildo de Souza desapareceu em 14 de julho de 2013, quando foi levado por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Na época, afirmaram que ele era um traficante e o caso quase se tornou mais um entre os milhares de desaparecimentos do Estado, até Zaccone, então titular da 15ª DP (Gávea), assumi-lo e mudar o rumo das investigações, posteriormente passadas às mãos da Divisão de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro, que concluiu que a vítima havia sido barbaramente torturada até a morte pelos policiais, também responsáveis pela ocultação de seu cadáver.
“As primeiras manifestações na rua eram: ‘Cabral, cadê o Amarildo?’. E foi só por isso que o caso teve uma atenção tão grande do estado e se transformou num caso ímpar. Quando é que a gente viu um estado investir tantos recursos para investigar o desaparecimento de um favelado? Só foi possível porque o povo gritou e Cabral se sentiu cobrado politicamente. A partir do momento em que o governador não tem plena autonomia sobre suas polícias, isso vai se enfraquecendo”, afirma.

No contexto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o governo do estado perde completamente a autonomia sobre a segurança, o que rompe o único canal por meio do qual a população fluminense pode cobrar que ele cumpra seu papel na garantia de direitos dos cidadãos.
“Precisamos ter o controle popular das polícias. O povo precisa ter algum canal por meio do qual ele possa cobrar a forma como as polícias agem. Quando você retira isso do governante, isso acaba. É um aspecto cruel”
Isto significa, segundo Zaccone, que hoje não vivemos de fato em uma democracia. “As polícias civil e militar estão governadas por um interventor, e um interventor indicado por um presidente ilegítimo! É o fim do mundo! Podemos falar que vivemos numa democracia? Um presidente ilegítimo indica um interventor que vai fazer o gerenciamento todo da polícia, inclusive no que diz respeito à questão econômica, à gestão dos recursos. É tudo com ele. O governador não tem hoje no Rio de Janeiro mais nenhuma gerência sobre as polícias. Isso, por si só, é o fim da democracia”, encerra.