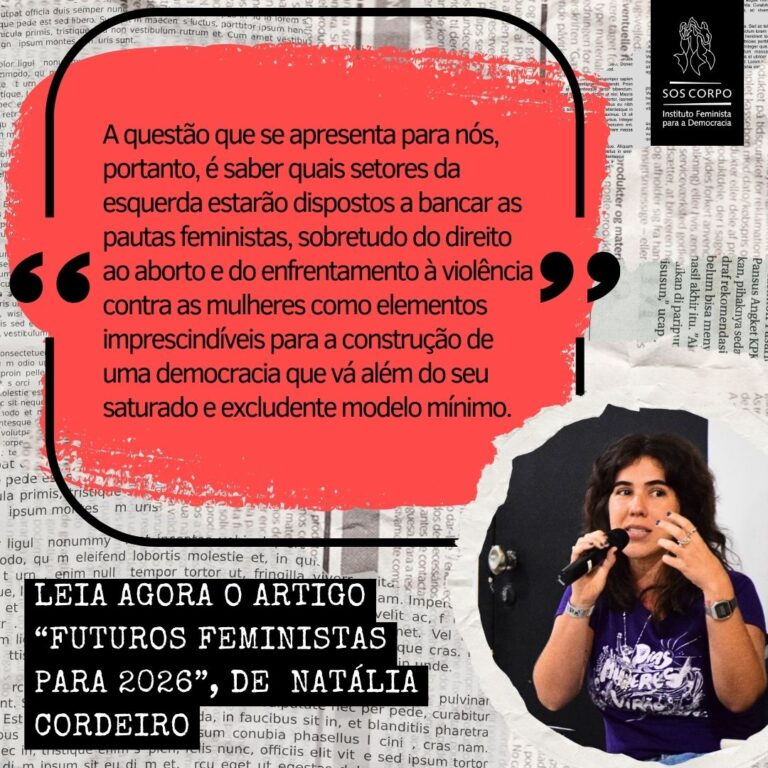Noventa dias na África
Por Antonella Sinacore - "Mal chegamos, percebemos que a aldeia artística tinha cerca de 10 construções completamente abandonadas. Pior ainda: íamos construir mais um. Como a crônica de uma morte anunciada. Diante desse panorama, a primeira coisa que fizemos foi questionarmos qual seria o nosso trabalho ali, já que não tínhamos a intenção de seguir fomentando aquela situação."

Por Antonella Sinacore, na Revista Bravas.

Tínhamos recebido com dois colegas uma menção de honra no concurso de arquitetura em terra “3rd Earth Arquitecture Competition” realizado pela Fundação Nka, uma ONG que entre 2011 e 2017, organizou concursos de arquitetura internacionais. Em cada edição, os diferentes componentes iam sendo construídos com o objetivo de criar uma aldeia artística em uma pequena aldeia de Gana, chamada Abetenim. O prêmio nos deu a possibilidade de construir nosso projeto. Sobre isto é este texto, porém também sobre um projeto que transcendeu a arquitetura.
Esse concurso sempre tinha sido vencido por arquitetas e arquitetos residentes na Europa ou nos Estados Unidos e para nós foi um grande desafio poder chegar até ali. Principalmente porque tínhamos que financiar nossa viagem e recrutar voluntários que quisessem participar da oficina para construir nosso projeto. Em fevereiro de 2017, depois de um ano intenso de gestões de todo tipo, conseguimos e partimos com destino a Gana, o primeiro país da África Subsaariana a conquistar independência de seus colonizadores ingleses em 1957. Desde então, Gana se orgulha de ser uma país pacífico e seguro, uma referência democrática no continente. Nele, vivem 30 milhões de pessoas e segundo a Organização das Nações Unidas quase a metade da população vive em zonas rurais.
Gana me recebeu com uma checagem de rotina e aleatória de bagagem realizada pela equipe de narcóticos. O aleatório foi, provavelmente, porque eu fui a única mulher branca que desembarcou do avião. Abriram minha mochila e tiraram tudo que havia dentro, enquanto eu esperava tranquila, sem demonstrar nenhum tipo de inquietude para que terminassem rapidamente com a tarefa e me deixassem ir. Da forma que foi possível, enfiei tudo de volta na mala, às pressas, e saí do aeroporto para pegar um táxi.
Havia muita gente oferecendo-me um táxi para meu alojamento e escolhi uma pessoa, não sei com que critério de fato, possivelmente foi a que escapuliu melhor da multidão e se mostrou mais respeitável.
No caminho para o albergue, ia observando pela janela maravilhada com tudo que via, fazia mais de um ano que preparava essa viagem e tinha projetado esse país na minha mente mil vezes, no entanto, tudo superava minha imaginação. O clima fatigoso, os cheiros, as cores, o ruído permanente, a sujeira e o caos. Esses negativos tanto negativos quanto positivos, formavam uma grande coisa com vida que me parecia fantástica. Deixei a bagagem no albergue e saí para encontrar o resto da equipe, que havia chegado no dia anterior. Obviamente, não saí antes lambuzar-me inteira de repelente, por todos os temores de ser picada por mosquitos, inculcados por tantos guias e recomendações da internet.
Encontrei-me com meus companheiros em um bar onde tive a minha primeira aproximação com a cultura local: o sistema para lavar as mãos, que inclui um recipiente plástico, um detergente líquido e uma jarra de água; e a comida local que se come com as mãos, Tilápia com Banku, Fufú e um pouco mais. Tanto o Banku como o Fufú são uma espécie de massa cozida com distintos ingredientes que são servidos ensopados. Para comê-los, pega-se pedaços da massa e os lambuza no ensopado. Qualquer relato ou imagem não faz justiça à delícia que esse prato foi para mim.

Nesta oportunidade, só passei uma noite em Acra. Para o jantar, fomos a um lugar onde comer comida “normal”. Encontramos uma pizzaria e aí jantamos. Hoje me parece estranho pensar como na primeira noite na África um grupo de seis uruguaios e um tunisiano quiseram escapar da realidade, ainda que fosse por um momento. Voltei a Acra várias vezes e sempre a vivi de uma maneira distinta, porque cada vez que retornei, eu era outra pessoa. Acra foi meu primeiro contato com esse novo mundo que estava começando a conhecer.
De Acra fomos a Abetenim, a aldeia que seria nossa casa pelos próximos dois meses. Abetenim encontra-se no centro de Gana, próxima a Kumasi, uma das grandes cidades do país. Seu nome significa “Aldeia de árvores de palma” e seus cerca de 500 habitantes trabalham tanto na produção do óleo de palma como na de grãos de cacau. A aldeia se desenvolve através de uma estrada de terra de cor laranja intenso que funciona como eixo das distintas fazendas de cacau e palma, e também das casas, escola, das oito igrejas e da mesquita. Esta foi a aldeia escolhida pela Fundação Nka para realizar sua vila artística.
Desde criança tinha certeza que queria viver na África, nunca soube o motivo, no entanto, estando ali pude entender: me senti como em casa, conheci minha capacidade de me adaptar a uma realidade totalmente diferente. Em Abetenim não há eletricidade sempre, a roupa é lavada a mão e o consumismo não existe: não há nada para comprar. É possível ser mais ou menos consumista, mas a maioria de nós está inserida no mesmo sistema. Ainda que o grupo de trabalho estivesse formado por pessoas de diversas nacionalidades, em Abetenim, todos vivíamos nas mesmas condições.
O projeto se tratava de construir uma residência para artistas, dentro de um plano mais ambicioso de criar uma aldeia artística, onde pessoas de diferentes disciplinas pudessem ir, desenvolver e aprender arte. Fazia sete ou oito anos que a iniciativa estava em marcha e todos os anos várias equipes iam levantar mais uma construção para formar a aldeia artística.
Mal chegamos, percebemos que a aldeia artística tinha cerca de 10 construções completamente abandonadas. Pior ainda: íamos construir mais um. Como a crônica de uma morte anunciada. Diante desse panorama, a primeira coisa que fizemos foi questionarmos qual seria o nosso trabalho ali, já que não tínhamos a intenção de seguir fomentando aquela situação. Frank, contato da Nka na aldeia, nos contou que o diretor da ONG queria terminar de construir todos os componentes da aldeia artística para começar a utilizar as construções para seu fim. No entanto, era difícil de entender isso por várias razões: não existia um “plano master” que indicaria uma finalização potencial, os edifícios estavam muito deteriorados e a cada vez seria pior.
De qualquer maneira, por alguma razão, a justificativa de poder começar a utilizá- los uma vez que toda a aldeia artística estivesse construída não parecia estranha. Desde meu primeiro dia em Ghana, observei uma quantidade enorme de construções sem terminar, grandes edificações que tinham só o perímetro com uma altura de um metro ou menos, sempre impossíveis de habitar. Me pareceu muito curioso e comecei a investigar a razão. Frank me contou que geralmente em Gana, se uma família planeja fazer uma casa, começa desde o início com uma grande construção, até que acaba o dinheiro. Às vezes, passam anos até retomar os trabalhos ou simplesmente abandonam. Esta forma de conceber a construção de uma moradia me pareceu estranha, já que o mais comum para nós é que uma família construa algo pequeno mas habitável e com o passar dos anos o amplie.
Mesmo que houvesse uma justificativa para esse contexto, não nos parecia nada lógico somar a nossa construção a esse mostruário abandonado que provavelmente nunca seria utilizado como aldeia artística, muito menos estando a cinco minutos a pé de Abetenim. Então, decidimos construir algo realmente necessário. Depois de falar com o chefe da aldeia e de adaptar o projeto arquitetônico, começamos a construir um salão para os professores da escola.


O dia a dia
Aos poucos, fui entendendo do que se tratava a vida em Abatenim. Desde o primeiro dia, nos advertiram sobre escorpiões, cobras venenosas que podiam entrar nos cômodos se deixássemos a porta aberta, sobre ladrões armados dos quais estávamos razoavelmente a salvo por ter um guarda armado escondido na selva. Não acreditamos em nada, pensamos que estava simplesmente querendo assustar os Obronis (assim se referem aos brancos) para que seguíssemos suas regras ou até para rir de nós. Até que com o correr dos dias, tudo foi acontecendo: uma cobra entrou na nossa casa, Ahmed, um rapaz tunisiano da nossa equipe foi picado por um escorpião e internado em um hospital local, depois de ter feito um torniquete na perna, outros dois uruguaios com Malária e infecções e um alvoroço na aldeia quando mataram um dos ladrões armados. Ali foi que vimos um senhor vestido de preto com uma escopeta sair do matagal. Era nosso guardião. Foi a partir daí que nos demos conta de que não estávamos em um povoado do interior do Uruguai e que, ainda que pudéssemos nos sentir em casa, havia coisas que não podíamos ignorar.
Com dois meses na aldeia, de muito trabalho, calor e emoções de todo tipo, terminamos nossa construção. Ficou pronto o salão de professores, construído quase por completo com materiais naturais que conseguimos na aldeia e completamente integrado à comunidade. Quando não era época de aulas, era utilizado como arquibancada para assistir as partidas de futebol que se jogavam no campo de terra ao lado do edifício.
Era hora de voltar para casa

Projeto Madanfo
Em 2017, em Abetenim, conheci Lucía, uma arquiteta espanhola da qual me aproximei muito. Foi na estadia em Abetenim que começou a ideia de seguir trabalhando com essa comunidade. Ao retornar aos nossos respectivos países, e depois de aprender muito sobre algo que era novo para nós, fundamos o Projeto Madanfo, uma associação criada para colaborar com as crianças de pequenas aldeias rurais de Gana. A iniciativa nasceu do forte vínculo com a comunidade e por ver tudo que podíamos fazer com pouco. À equipe do Projeto Madanfo foram-se somando várias pessoas de países diversos, todas voluntárias e cada uma contribuindo com seu interessem, formação e conhecimentos. Atualmente, o Projeto Madanfo se financia principalmente com doações particulares e de alguma empresa europeia, no entanto, gerencia um orçamento muito baixo.
No início de 2019, nós voltamos a Gana para começar o projeto “Caminho para a escola”. A segunda vez em Gana foi diferente. Chegava em um lugar que já sabia o que iria encontrar. Ia com outro projeto, em um contexto totalmente distinto e a outra aldeia: Okorase, já que não podíamos voltar a Albetenim por problemas políticos do distrito. Okorase é uma aldeia da mesma região de Abetenim. Tem 700 habitantes, uma escola, três poços de água e um único sanitário comunitário. O chefe de Okorase, Nana, com seus 75 anos, sempre está a par do que acontece ali. É um senhor muito amável, sempre com um sorriso, e uma grande referência na aldeia. A densidade da aldeia é muito baixa o que por muitas vezes durante o dia e por causa do calor pesado, parece uma aldeia deserta.
Ainda que Lucía e eu sejamos arquitetas, o Projeto Madanfo não nasceu com o fim de construir e fazer arquitetura. Em abril deste ano, colocamos em marcha o projeto “Caminho para a escola”, com a criação de pequenas fábricas de sapatos em aldeias rurais para fazer sandálias para meninas e meninos das aldeias. Esta ideia surgiu diante da carência de sapatos de muitas crianças e no que isto implicava. Na escola, há regras muito estritas com relação ao uniforme e se uma crianças não tem sapatos não pode assistir as aulas. Muitas vezes, o único par de sapatos que há na família, o utilizaram para ir à escola, porém no resto do dia estão descalços. Por outro lado, muitos habitantes destas aldeias são jovens que não têm emprego nem ofício, assim também buscamos capacitar estes jovens e oferecer-lhes trabalho na medida do possível. Atualmente, existe uma destas fábricas em Okorase: trabalham aí três jovens, são feitas sandálias para as crianças que vão às escola aí e as sandálias são repartidas com outras aldeias próximas, como Abetenim. As sandálias são entregues por um custo baixíssimo que serve para cobrir os materiais enquanto os salários dos empregados são cobertos atualmente pelo Projeto Mafando. Nana, o chefe da aldeia, nos cedeu um espaço para montar a oficina e Frank, contato da Fundação Nka (ONG que em 2017 deixou de existir) que trabalhava como professor na escola de Abetenim, foi transferido para Kwaso, um povoado a cinco minutos de Okorase. Frank é quem está responsável pelo projeto em Okorase, gerindo com nosso apoio à distância, a oficina de sapatos.
Os três trabalhadores começaram como aprendizes com Lucía e eu. Depois de trabalhar alguns dias sem entender porque riam de nós e comentavam em Twi, o idioma falado na região do país, alguém que falava inglês nos explicou que em Gana as mulheres não faziam sapatos. Uma semana depois, um dos rapazes não apareceu por algumas jornadas e buscamos uma substituição. Fomos diretamente em busca de uma mulher e encontramos Ameda, de 30 anos, mãe de dois pequenos menores de cinco, com uma vontade incrível de trabalhar e que passa todo o tempo cantando e alegrando o ambiente.

A diferença da outra vez, em Abatenim, é que não tínhamos que fazer trabalho físico e não estávamos o dia inteiro ocupadas, o que nos permitiu conhecer mais sobre o dia a dia das pessoas que viviam ali e ver coisas novas. Em geral, as pessoas jovens dificilmente têm emprego estável, muitos se vão para a cidade em busca de oportunidades, porém para os que permanecem não é simples, têm trabalho por safra em fazendas de cacau ou óleo de palma.
O papel das mulheres na comunidade não passa despercebido. São as encarregadas de coletar água, muitas vezes arriscando a gravidez ou desenvolvendo problemas de coluna por carregar tanto peso diariamente em suas cabeças. São encarregadas do trabalho nas fazendas, da venda nos mercados e nos pequenos quiosques, e obviamente, das crianças e das tarefas domésticas. As tarefas domésticas implicam bastante mais tempo e esforço do que podemos imaginar. Para cozinhar “Fufu”, uma das comidas mais tradicionais, é necessário moer em um pilão uma mistura de mandioca com inhame com um pau de cerca de dois metros, que exige uma força extraordinária. Então, deve-se buscar água no poço mais próximos e carregá-la até a casa, acender o fogo no chão, ferver a água em um caldeirão e cozinhar. O mesmo se repete todos os dias e durante as horas de dol, já que ao anoitecer a jornada termina.
Gana me capturou em todos os sentidos desde o primeiro momento. As cores intensas que formam a paisagem, o laranja da terra, o verde da vegetação, os tecidos multicoloridos, a amabilidade e alegria das pessoas, o dinamismo, os cheiros, a intensidade, o calor, os sons: crianças gritando, rádios no volume máximo, pregadores com microfones na rua, conversas que sempre parecem discussões mas que nunca são. Tudo isto junto e tão diferente da minha realidade foi o que me fez sentir mais uma vez, e o que me abriu as portas deste continente tão tentador para conhecer, explorar, e viver, sabendo que é infinito. Como bem expressa Ryszard Kapusciñski, “este continente é demasiado grande para descrevê-lo. É todo um oceano, um planeta à parte, todo um cosmos heterogêneo e de uma riqueza extraordinária. Só uma convenção reducionista, por comodidade, dizemos ‘África’. Na realidade, salvo pelo nome geográfico, África não existe”. [1]
[1] De Ébano, Ryszard Kapusciñski. 1998, Editorial Anagrama.